MIA > Biblioteca > Evelyn Reed > Novidades
Primeira Edição: Este informe foi apresentado, entre outros, na Conferência Meridional para a Liberação da Mulher, realizada em Beulad, Mississipi, em 8 de maio de 1970.
Fonte: Sexo Contra Sexo ou Classe Contra Classe. São Paulo: Editora Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2008.
Transcrição: Ana Chagas
HTML: Fernando A. S. Araújo.
Direitos de Reprodução: © 2008, Editora Instituto José Luís e Rosa Sundermann. A editora autoriza a reprodução de partes deste livro para fins acadêmicos e/ou de divulgação eletrônica, desde que mencionada a fonte.
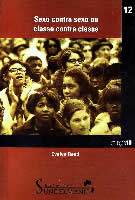
Os problemas do sexo, do casamento e da família, que afetam profundamente o destino da mulher, são particularmente importantes para o movimento de liberação. Trata-se de questões puramente privadas ou têm por acaso algum interesse público? Esta pergunta poderá surpreender a muitos, que consideram que estas questões íntimas são assuntos pessoais, que deveriam permanecer estritamente privados. Inclusive, podem sentir-se aborrecidos com a ideia de que estas questões, que implicam frequentemente experiências pessoais penosas e conflitantes, possam ser consideradas de interesse público. Mas qual é a situação real nas condições atuais de vida da sociedade capitalista?
No seu livro The Sociological Imagination, C. Wright Mills esclarece este ponto. Ao falar da diferença entre “problemas pessoais” e “temas públicos”, diz que “um problema é um assunto particular quando afeta apenas a um único indivíduo e ao círculo estreito que o rodeia”. Em troca, os “temas de interesse público se referem a questões que transcendem a esfera individual e afetam toda a estrutura social”. E nos oferece muitos exemplos para mostrar a diferença entre ambos.
Tomemos como exemplo a questão do desemprego. Mills diz que quando em uma cidade de 100.000 habitantes existe apenas um só homem desocupado, este é um problema pessoal. Inclusive este caso poderia ser explicado através do caráter particular daquele homem, de sua falta de habilidade ou de oportunidade imediata. “Mas quando em uma nação de 50 milhões de trabalhadores há 15 milhões de homens parados” a questão assume uma dimensão muito diferente. Indica, no mínimo, um colapso parcial da estrutura social e se converte assim em um tema de interesse político e público.
Um segundo exemplo citado, demonstra mais uma vez a realidade da transformação do elemento quantitativo em qualitativo, que inclusive se mantém íntimas que diz respeito às relações mais intimas entre homem e mulher:
Consideremos o casamento. Dentro de sua estrutura, um homem e uma mulher podem experimentar dificuldades pessoais, mas quando o índice de divórcios durante os primeiros anos de casamento chega ao número de 250 em cada 1.000 casais, isto indica que existem problemas estruturais relacionados com as instituições do casamento e da família e de outras que se baseiam sobre estas.
Decorreram 10 anos desde que Mills escreveu seu livro e entretanto os divórcios têm aumentado constantemente. Atualmente, em cada três casamentos, há uma separação. No estado da Califórnia, o índice e ainda mais elevado: entre dois casamentos, um acaba em divórcio. Estes números nos demonstram que os problemas nas relações pessoais mais íntimas numas entre homem e mulher ultrapassaram, atualmente, os limites de uma questão pessoal e representam um tema público de proporções massivas. Como conclui o próprio Mills, “a questão de um casamento satisfatório não pode manter-se no âmbito das soluções puramente pessoais”.
Existe, porém, outro aspecto do problema. Uma vez que o casamento está intimamente relacionado com a família, ocorre que o que afeta um, afeta também, vitalmente, a outra. Dessa maneira a crise do casamento em grande escala implica uma crise correspondente para a família. Esta evolução contradiz a propaganda da Igreja e do Estado, que afirmam que a família é uma união estável, indissolúvel, que constitui o fundamento da própria sociedade, sem a qual seria impraticável toda vida humana. A crise da família despertou um grande interesse entre muitas mulheres do movimento de liberação, que realizaram estudos teóricos sobre a história e o papel da família. Isto as levou a questionar praticamente todas as antigas crenças em relação a esta instituição.
O resultado é que, atualmente, o movimento de liberação da mulher parte de um nível ideológico muito mais elevado e com uma visão mais avançada que seu predecessor, o movimento feminista do século passado. Nele, inclusive, as mulheres mais progressistas limitavam sua luta à reivindicação de direitos iguais aos dos homens, no que se refere à propriedade e à família, direitos civis iguais, como o direito ao voto etc. Mas, com raras exceções, as primeiras feministas não questionaram a instituição do casamento e da família burguesa além do questionamento do próprio sistema capitalista e da propriedade privada. Para elas o casamento continuava sendo ainda o “sagrado vínculo” e a família era a “sagrada família”, uma relação humana intocável, inquestionável, eterna e indiscutível.
Contudo, atualmente, estas atitudes e valores que antes eram comumente aceitos estão mudando profundamente, tanto na vida real, como no terreno dos novos valores que estão sendo difundidos através do país. As partidárias do movimento de liberação da mulher procuram novas respostas, mais científicas e documentadas, para substituir os antigos preconceitos e a propaganda sobre o problema do casamento e da família, que se converteram desde então nos temas mais ardentes da atualidade.
Como iniciar esta investigação? Do meu ponto de vista, é necessário antes de tudo combater a opinião tão difundida, porém errada, de que a família é uma “unidade natural”, que sempre existiu e que existirá sempre, porque está enraizada nas mais profundas necessidades biológicas do sexo e da procriação que sentem todos os seres humanos. A história se desenvolve assim: o homem e a mulher se sentem reciprocamente atraídos através de sua necessidade natural urgente de manter relações sexuais e por isto se casam. Isto os leva à procriação, quando a mulher dá à luz. O pai vai trabalhar para satisfazer as necessidades da sua família, enquanto a mulher fica em casa.
Este quadro simplista afirma ou implica a inexistência de outras formas para se satisfazer as necessidades e as funções naturais, a não ser através do casamento e da família patriarcal. Inclusive se diz que, uma vez que os animais, como os homens, se juntam e procriam, as raízes do casamento e da família transcendem o mundo animal. Assim, tais relações se convertem não apenas em um ponto fixo e irremovível da vida humana, mas que representam o melhor e mais desejável modo de satisfazer as necessidades naturais.
Estas afirmações, contudo, não resistem a uma investigação mais séria. Como conseguiram, então, ser tão difundidas? O erro fundamental consiste em identificar a necessidade natural do sexo e da procriação, que o ser humano compartilha com os animais, com as instituições sociais do casamento e da família, que são exclusivos da humanidade. Os fenômenos biológicos e sociais estão longe de serem idênticos. Os biológicos são “naturais”, os sociais são “feitos pelo homem”.
Desde o momento em que o ser humano é capaz de condicionar e impor um controle sobre as necessidades naturais, ele é o único que pode criar uma instituição nascida dessas necessidades naturais, mas que é governada e controlada por ele. As relações sexuais na sociedade são governadas pelo casamento e a procriação pela família. Estas leis humanas não têm equivalente no mundo animal, no qual as relações sexuais existem sem casamento e a procriação sem família patriarcal.
Enquanto o casamento e a família constituem uma fusão de necessidades naturais e fatores sociais, em troca, na realidade os fatores sociais são os decisivos para definir e determinar suas características. Segundo a lei do casamento monogâmico, o homem adquire um poder legal para exigir exclusividade sexual de sua mulher e a prestação de seus serviços domésticos. O direito familiar outorga ao pai a obrigação legal de prover a manutenção de sua mulher e seus filhos. Sendo o provedor principal neste sistema determinante da economia familiar, o homem ocupa uma posição central na família, lhe dá seu nome, determina suas condições de vida segundo seu nível de ocupação, sua classe e seu estado.
Dessa maneira, a família, como todas as demais instituições sociais, é um produto da história humana e não da biologia. E feita pelo homem e não pela natureza. Como se baseia nas necessidades biológicas do sexo e da procriação, modela, domina e condiciona essas necessidades mediante fatores legais, econômicos e culturais.
Em segundo lugar, não é verdade que esta instituição tenha existido sempre, nem ao menos como meio humano e social para governar as necessidades naturais. O casamento e a família não existiam na sociedade matriarcal, que não estava organizada sobre a base da unidade familiar mas sobre a base do clã materno. Longe de ser primordial e eterna, esta instituição teve uma vida relativamente breve na história da humanidade.
Finalmente, também não é verdade que a instituição do casamento e da família represente para o ser humano o melhor modo de satisfazer suas necessidades. Segundo demonstram as estatísticas, as relações sexuais institucionalizadas e a família estão se dissolvendo diante de nossos olhos. E absurdo, portanto, sustentar que essas relações devem ser estáveis por natureza ou por natureza humana, por mandamento de Deus ou do governo, como as mais satisfatórias para toda a eternidade. A amplitude e a profundidade de sua crise demonstram precisamente o contrário - que esta instituição não pode servir mais, nem ser útil às necessidades do ser humano. Por mais necessárias que possam ter sido até nossos dias, é evidente que agora foram vencidas pelo tempo.
Mas as instituições podem mudar. Qualquer coisa que tenha sido feita pelo homem no transcurso da história, uma vez perdida sua utilidade, pode ser modificada, refeita, ou totalmente substituída pelo homem ou pela mulher. Uma vez que as mulheres como “segundo sexo” são hoje as mais frustradas e oprimidas por esta instituição arcaica, podemos esperar que sejam elas que tomem a iniciativa e promovam as mudanças necessárias que contribuam para sua liberação, na sociedade e em suas instituições.
Por isso é que um grande número de mulheres se rebela contra o status quo, procurando um esclarecimento teórico para as seguintes questões:
No que se refere à primeira questão, muitas mulheres do movimento de liberação já conhecem, ao menos em parte, a resposta. Leram a obra clássica de Engels sobre a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que embora tenha sido escrita há um século, goza hoje de notável difusão e influência própria, pelo desejo que sentem as mulheres radicalizadas de aprender tudo o que seja possível sobre este tema. Através desta obra, puderam compreender que foi a sociedade patriarcal de classes que instituiu o casamento monogâmico e que seu propósito original era servir aos interesses dos ricos, porque protegia e ajudava a conservação e a transmissão de sua propriedade privada.
Na antiga história de Grécia e Roma, quando se consolidaram estas instituições, a base econômica do casamento monogâmico se expressava com suficiente brutalidade. Os juristas romanos que formularam o princípio da patria potestas (todo poder ao pai), codificaram também as leis referentes à propriedade, que formam a base da lei matrimonial. Estas leis continuaram sendo fundamentalmente as mesmas nos três estágios fundamentais da sociedade de classes: a escravidão, o feudalismo e o capitalismo.
No primeiro, o casamento era prerrogativa dos patrícios, quer dizer, unicamente das classes nobres e ricas. Os escravos não casavam: inclusive sua cópula ficava submetida ao capricho e à vontade de seu amo. Mas tampouco os plebeus se casavam no sentido formal do termo: simplesmente coabitavam por casais, segundo os velhos costumes e tradições populares.
O casamento começou como uma inovação introduzida pelas classes superiores, em benefício exclusivo dos ricos, proprietários de bens. Este papel decisivo que desempenha a propriedade privada na constituição do casamento como instituição de classe é resumido por Briffault como se segue:
O casamento patriarcal romano foi instituído deliberadamente pelos patrícios para seus próprios fins... Os patrícios não reconheciam como casamento propriamente dito os pactos matrimoniais daqueles que nada possuíam. Os plebeus não conheciam seus pais, e seus casamentos eram pouco mais que uma promiscuidade entre bestas... Mas os patrícios não se limitavam a ridicularizar o casamento dos plebeus; não permitiam que adotassem o sistema matrimonial patrício, que consideravam um privilégio seu. E este privilégio consistia em ter um herdeiro legal reconhecido, capaz de ser o herdeiro de seu pai.(1)
Outra fonte nos diz que
quando vemos que em Atenas, no ano 300 A. C., entre uma população de 515.000 pessoas, unicamente 9.000 tinham o direito de casar, podemos deduzir que o casamento era fundamentalmente uma instituição de classe.(2)
Dessa maneira, a base econômica do casamento e da família patriarcal era muito mais evidente que agora. Com as leis do casamento monogâmico, um homem assegurava a posse exclusiva de sua mulher que lhe gerava herdeiros legais e a absoluta autoridade sobre ela e seus filhos. Para demonstrar a evidente degradação da mulher neste período, Engels cita uma comédia de Eurípedes, na qual a mulher é definida como “oikurema”, um substantivo neutro que indica um objeto de uso doméstico; e de fato, além de dar à luz seus filhos, a mulher não tinha para os atenienses outra utilidade a não ser servir seu marido.(3)
A base originária do casamento resulta menos transparente na fase seguinte da sociedade de classes, no período feudal, quando se estende a uma parte das classes inferiores. Para os nobres e aristocratas, o casamento legal continuava sendo prerrogativa dos ricos. Contudo ao surgir o cristianismo, a Igreja considerou útil, por múltiplas razões, estender o casamento aos pobres. Pela lei canônica, todos os cristãos ficavam obrigados a servir-se deste novo privilégio, o sagrado vínculo do casamento. Desse modo e ainda que fosse limitado somente aos cristãos, uma parte da gente comum foi levada à instituição matrimonial, conjuntamente com os ricos. Todavia o casamento formal e legal não havia adquirido aplicação universal.
O casamento generalizado, estendido a todas as classes, se impõe na civilização ocidental quando surgem relações do tipo burguês. Inclusive, foi preciso algum tempo para que amadurecesse como obrigação legal. Antes de adquirirem e obterem as mesmas leis matrimoniais sancionadas pelo Estado, desfrutadas pela classe rica, os pobres e os despossuídos passaram por um período matrimonial baseado na “lei comum”. Atualmente, com ou sem o matrimônio eclesiástico, todos os casais obtêm o mesmo certificado matrimonial, legalizado pelo Estado, que os converte legalmente em casados.
Nesta etapa da evolução do casamento e da família, a base econômica da instituição é obscurecida pelo fato de que os pobres e explorados são obrigados ao casamento legal, tal como os ricos. O casamento se converteu em obrigatório para todas as classes. Quem não cumpria com esta obrigação se expunha a penalidades legais de diversos tipos, como, por exemplo, a que marcava a mulher não casada e a considerava “prostituta”, qualificando como ilegítimos seus filhos. A mãe solteira e seus filhos chegaram a ser tratados como marginais, condição que frequentemente era considerada pior que a morte.
Isto nos leva a perguntar como e por que uma instituição criada pela classe rica para servir seus próprios interesses econômicos pôde estender-se as massas trabalhadoras que pouco ou nada possuem. Como pôde acontecer que uma instituição concebida como instituição de classe tenha se convertido em uma instituição de massas no curso de um desenvolvimento histórico? Devemos procurar a resposta no modo capitalista de exploração de classes.
O capitalismo introduziu a industrialização em grande escala e com ela fez surgir as massas proletárias que habitam as cidades e aglomerações industriais. Isto significou uma mudança na posição econômica da mulher. Enquanto a agricultura e o pequeno artesanato continuavam dominando na produção, todos os membros de uma família, incluindo mulheres e crianças, ajudavam no trabalho que mantinha a família e a comunidade. O trabalho coletivo, dentro do âmbito familiar, era o modo característico de vida nas regiões agrícolas, nas pequenas oficinas de artesanato e indústrias domésticas. Mas com o surgimento do capitalismo industrial, a família produtiva da época pré-industrial foi substituída pelas famílias consumidoras, não produtivas, próprias das zonas urbanas. Ao transferir grandes massas humanas das granjas e pequenas oficinas e colocá-las como operários assalariados nas cidades industriais, as mulheres perderam o antigo posto no trabalho produtivo, ficando relegadas à criação dos filhos e aos trabalhos domésticos. Converteram-se em consumidoras totalmente dependentes de alguém que ganhasse seu sustento e pudesse “trazer o pão para casa”.
Nestas circunstâncias, alguém teria que encarregar-se da responsabilidade de arcar com o cuidado das mulheres indefesas e dos filhos. Esta responsabilidade foi atribuída ao marido e pai, por meio de um casamento generalizado, embora não se desse a estes assalariados garantia alguma de que teriam sempre um trabalho ou salário rio suficiente para cumprir com suas obrigações familiares.
Para ocultar esta exploração, foi inventado um novo mito. Segundo a doutrina da Igreja, os casamentos “se realizam no céu” e desfrutam de um conhecimento divino. A partir daí, divulgou-se a ideia de que a família é uma unidade natural sem a qual o ser humano não pode satisfazer sua necessidade normal de amor e de ter filhos. A partir de então se converteu em obrigação natural do pai e/ou da mãe prover as necessidades de seus filhos — sem levar em conta os que estiverem parados ou incapacitados, ou inclusive mortos.
Temos aqui a resposta à primeira pergunta, sobre o tipo de sociedade que precisa da instituição matrimonial e da família e para que fins. É a sociedade de classes que necessita delas para atender aos interesses dos ricos. No seu início, a instituição servia a um único fim que se relaciona com a propriedade e a hereditariedade da propriedade privada. Mas atualmente a família serve a um duplo fim: nas mãos da classe exploradora, converteu-se em instrumento suplementar para despojar as massas trabalhadoras. O matrimônio universal imposto pelo Estado, converteu-se em instrumento vantajoso para os especuladores, conforme foi surgindo o sistema industrial de escravidão assalariada. Isto desencarrega os capitalistas de toda a responsabilidade social quanto ao bem-estar dos operários e agrava a situação dos pobres com uma pesada carga econômica, na forma de obrigações familiares. Cada uma das pequenas famílias nucleares tem que sobreviver ou perecer por seu próprio esforço, com pouca ou nenhuma assistência de fora.
Uma das diferenças entre a exploração na fábrica e a que se desenvolve na família é que a primeira é facilmente reconhecida pelo que representa, enquanto a outra não. Nunca conseguiremos fazer os trabalhadores assalariados compreender que sua dependência econômica dos patrões é sagrada ou natural. Pelo contrário, eles sabem muito bem que são explorados. Mas no caso da família, a mãe-natureza e a divindade são conjuradas para disfarçar a base econômica, declarando que ambas são “sagradas” e “naturais”. Na realidade, o único sagrado para a classe capitalista dominante é o onipotente dólar e o direito à propriedade privada. Nestas circunstâncias, a necessidade de amor, seja sexual, materno ou paterno, não se beneficia, mas se aproveita e se distorce em uma instituição que não está baseada no amor, mas em considerações econômicas.
Isto nos leva a uma segunda pergunta: como a mulher chegou a ser considerada um ser inferior e degradado e como suas necessidades foram subvertidas por esta instituição?
É digno observar que uma das reivindicações fundamentais dos movimentos de liberação da mulher é o controle de seu próprio corpo. Atualmente esta reivindicação está centraria quase sempre nas funções reprodutoras e no direito ao aborto. Mas há outros aspectos relacionados com o direito da mulher e a determinação de seu próprio destino. Entre estes se inclui o direito ao desenvolvimento irrestrito de sua inteligência e seu talento para a vida intelectual e cultural, como o poder desenvolver relações sexuais e afetivas satisfatórias. Todas estas necessidades humanas, sociais, sexuais e intelectuais foram reprimidas e mutiladas pelo tipo de vida mesquinha imposta à mulher através do sistema do casamento e da família.
Podemos medir a importância desta privação comparando a vida social e as relações sexuais livres de que desfrutava a mulher na sociedade pré-classista. Na sociedade primitiva, baseada na produção coletiva, as mulheres sobressaíam como seres produtivos e culturais. Ocupavam uma posição de destaque nos assuntos comunitários da tribo e não existia limitação por parte dos homens para sua capacidade intelectual ou sua liberdade sexual. Neste tipo de sociedade, baseada em direitos iguais para todos, não existia a necessidade de um casamento legal. Existia em seu lugar a simples coabitação de um casal, a “família acasalada” conforme denominam Morgan e Engels. A mulher, como os homens, exercia o direito de sua livre escolha em questões de amor e a união do casal persistia unicamente enquanto resultava satisfatória para cada uma das partes. As separações não afetavam os interesses da mulher e dos filhos, já que eram mantidos pela comunidade em que viviam num sistema de “economia familiar”.
Em resumo, uma mulher não necessitava de um marido como meio de subsistência; era economicamente independente como membro produtivo da comunidade. Isto proporcionava às mulheres, da mesma maneira que aos homens, liberdade para seguir suas inclinações pessoais no campo das relações sexuais. A mulher podia optar por permanecer durante toda a vida com o mesmo marido, mas não existia uma obrigação legal, moral ou econômica que a forçasse a isto.
Esta liberdade acabou com o advento da sociedade de classes, a propriedade privada e o casamento monogâmico. Uma vez perdida sua função produtiva dentro da comunidade, a mulher passou a depender do casamento como meio de subsistência. Foi então que o casamento se converteu na preocupação principal dentro da vida de uma mulher. Entre as classes ricas, foi considerado e utilizado como qualquer outra transação comercial. O pai da mulher entregava ao homem que havia casado com sua filha, uma propriedade chamada “dote”. Os atenienses ofereciam um dote “para induzir os homens a casar com suas filhas e toda a transação do casamento grego se baseava neste dote”, diz Briffault. E completa que o dote era o ponto crucial para a “elaboração jurídica da instituição matrimonial”.
A mulher se converteu em propriedade do marido junto com este dote: ficava obrigada a submeter seu corpo e seu cérebro, seu útero e seus serviços domésticos à disposição do marido. Nesta transação matrimonial, a mulher cedia o controle sobre seu corpo — e também sobre sua mente — convertendo-se de “corpo e alma” em propriedade do marido, que tomava as decisões importantes e decidia tudo em seu nome, controlando-a e a sua descendência.
Estes aspectos colocam em evidência o fundamento econômico da instituição de onde se origina a degradação da mulher. Na Grécia antiga, como diz Engels, a mulher se convertia em um bem próprio do marido, que a encerrava e guardava nas habitações destinadas às mulheres, dentro de sua casa particular, para que estivesse durante toda sua vida a seu serviço.
Nesta situação, em que o útero da mulher tinha importância decisiva, evidentemente seu cérebro não podia ter peso algum. Como nos demonstra a história da sociedade de classes, a mente e o talento da mulher tiveram muitas poucas oportunidades de se desenvolverem. Uma vez reduzida ao recinto doméstico, encerrada no lar, o intelecto da mulher permanece em estado de subdesenvolvimento, sofrendo o sexo feminino um bloqueio no seu desenvolvimento cultural. As mulheres, como sexo, sofreram a mesma situação que os países coloniais experimentaram sob o domínio imperialista.
Estas não foram as únicas desvantagens impostas à mulher, quando esta perdeu o controle de seu destino e de sua autonomia: ela também se viu privada de uma vida afetiva e sexual satisfatória. Como sublinhou Engels, a monogamia desde o princípio foi imposta unicamente à mulher. Segundo um código moral rígido, a mulher deve limitar suas relações sexuais ao próprio marido. Enquanto ela não pode ter relações sexuais com outro homem e é severamente castigada por qualquer infidelidade, não se impõe as mesmas restrições ao marido, que pode relacionar-se livremente com outras mulheres. A seus olhos, as mulheres dividem-se em duas categorias e a menos desejável delas é a das esposas. Na Grécia, as mulheres mais atrativas eram as hetairas que desdenhavam o casamento, e algumas ficaram famosas por seu talento intelectual e artístico; depois vinham as concubinas, também sexualmente acessíveis e, como último recurso, as esposas.
Deste modo, ainda que a mulher ocupe um lugar de destaque segundo a lei, é a última na hora de gozar a companhia intelectual e sexual do marido.
Demóstenes, o grande orador e político grego, resumiu a situação da seguinte maneira:
“Temos a hetaira para nosso prazer, a concubina para as exigências cotidianas do nosso corpo e a mulher para ter filhos legítimos e uma casa em ordem”(4).
Nestas circunstâncias, as relações entre um homem e sua mulher, desinteressada e limitada ao lar, ficavam reduzidas ao mínimo. Como observa Engels, o homem sente estas relações como uma “carga”, um “dever a cumprir e nada mais”. Não é de surpreender portanto que por causa deste amplo desinteresse pelas esposas “em Atenas, a lei obrigasse o homem não apenas a contrair matrimônio, como a cumprir ao mínimo os seus chamados deveres conjugais”.
É evidente que o casamento não foi introduzido para satisfazer as exigências humanas normais de afeto sexual e companhia e menos ainda para a mulher. O casamento foi estabelecido aberta e declaradamente para servir aos interesses dos homens possuidores da propriedade privada e segue mantendo abertamente esta função no estágio seguinte da sociedade de classes, a Idade Média.
No feudalismo, os senhores e nobres estabeleciam seus tratados sobre as terras, e a mulher era entregue conjuntamente como a terra que levava como dote, permanecendo indissoluvelmente ligada a esta. Muitas vezes esse contrato era realizado quando a mulher ainda era uma criança. Como o exemplo que nos oferece Will Durant:
Aos quatro anos de idade, Grace de Saleby foi dada em casamento a um nobre que poderia administrar suas ricas propriedades; mas ele morreu e ela então se casou aos seis anos com um rico senhor; aos onze anos casou com um terceiro... nestes negócios, o Direito da propriedade privada predominava sobre o amor e o casamento era uma questão financeira.(5)
E certo que os amores românticos floresceram durante todo o período feudal, mas sempre tinham lugar fora do casamento. Inclusive, as esposas dos senhores gozavam do prazer de um amor ilícito e, ainda que se esperasse delas uma certa dissimulação e discrição, a necessidade de manter o segredo, em geral, não passava de mera formalidade. Em resumo, poucos esforços eram feitos para ocultar o fato de que o casamento nada tinha a ver com o amor, e no código cavalheiresco, inclusive se considerava vulgar o que um amor culminasse com o casamento.
A fusão entre amor e casamento chegou com as relações “livremente contratadas” que figuravam na base do capitalismo e com o surgimento da classe proletária de trabalhadores assalariados. Isto não significa que a combinação resultou em êxito brilhante, porque o amor se defrontava com muitos fatores adversos. É verdade que, normalmente, entre os trabalhadores que possuem pouco ou nada, a base para o casamento é a atração recíproca e o amor. Mas não é verdade, segundo querem fazer crer as histórias, que depois do casamento o casal tenha que viver feliz para sempre. As estatísticas nos demonstram que os casamentos dos trabalhadores entram em crise e fracassam com a mesma frequência e rapidez que os da classe média e rica.
Uma vez mais, portanto, as relações afetivas e sexuais satisfatórias ou duradouras não se veem favorecidas por uma instituição que se baseia na exploração da classe trabalhadora, através de um sistema de “economia familiar”. Isto é especialmente certo no caso da mulher. Quando há pouca coisa que uma mulher pode escolher como forma de vida, além de converter-se em esposa, o termo “bom partido” se- converte em sinônimo de marido. Atualmente a mulher casada, ainda que em grande número trabalhe fora do lar, continua suportando a carga básica de todas as tarefas e responsabilidades domésticas. Representa o sexo duplamente oprimido, explorado no trabalho por seus patrões e oprimido no lar através da servidão familiar.
Aqui temos, assim, a resposta à nossa segunda pergunta, de como e por que as necessidades humanas são degradadas por esta instituição. Criada pela classe rica para servir a seus próprios interesses, esta instituição não foi na sua origem nem é atualmente um meio de satisfazer as necessidades humanas, sobretudo as necessidades da mulher trabalhadora. E um instrumento de exploração utilizado por uma sociedade de classes e exploradora.
Contudo, é precisamente o fato da mulher se ver duplamente oprimida, como trabalhadora e como mulher, o que deu nova vida e vigor ao atual movimento de liberação da mulher. Para falar mais exatamente, a transformação de muitas mulheres em mulheres trabalhadoras proporcionou-lhes tantos os meios, quanto o incentivo para colocar em dúvida o sistema opressor. Foi o afluxo crescente da mulher como trabalhadora assalariada na indústria, nas fábricas e nas profissões liberais, que introduziu um fator novo em sua vida, alguma coisa que a maioria de suas predecessoras do século XIX jamais chegou a possuir: a independência econômica.
É certo que a mulher, de modo geral, se verá relegada aos trabalhos mais humildes e subalternos, com um salário inferior ao dos homens, mas sua introdução na economia social se converteu no ponto de partida que as mulheres necessitavam para alcançar sua liberação. Alcançaram, assim, a possibilidade de escolher uma vida diferente que não a da dedicação total ao lar e à família e diferente do isolamento e da dependência a que estavam condenadas. Isto implica a possibilidade de reunir-se e trabalhar com outras mulheres e com outros homens e descobrir que tem aspirações e problemas comuns, tanto referentes ao trabalho como à família. Assim, seu afluxo no mercado de trabalho significou uma recusa crescente a um gênero de vida social e intelectualmente estancado.
O número de mulheres que trabalham fora do lar, casadas ou não, vem aumentando constantemente a partir da Primeira Guerra Mundial. As mulheres trabalham em tempo integral ou parcial ou, inclusive, durante apenas um período de sua vida. Considerando todas essas categorias, segundo informe do Ministério do Trabalho, 90% das mulheres americanas trabalham, ainda que apenas durante um período de sua vida. Estes dados são citados por M. e J. Roundtree no artigo publicado em janeiro de 1970, na Monthly Review, intitulado “Algo mais sobre a política econômica do movimento de liberação da mulher”. Concluindo, dizem:
A manutenção de um determinado nível de vida para a família, e em muitos casos a possibilidade de evitar a pobreza, depende agora, substancialmente, de que duas pessoas ganhem dinheiro na família. Trata-se de um processo irreversível. A participação da mulher no trabalho assalariado não pode mais continuar sendo considerada como uma situação “transitória”. Passou o tempo em que a mulher podia voltar ao lar.
Estes fatos são os que proporcionam a importância e o conteúdo para as reivindicações do movimento de liberação da mulher. Significam que passou o tempo em que as mulheres se submetiam, silenciosas e indefesas, à desigualdade, à discriminação e ao estado de inferioridade que a sociedade capitalista lhes tinha destinado como sexo. As militantes desencadearam uma ofensiva para recuperar o controle de seu corpo, de sua mente e de sua própria vida, que durante milhares de anos foram sacrificados aos interesses da propriedade privada. Eu acredito e afirmo que este, também, é um processo irreversível, que se estenderá continuamente a novas camadas de mulheres.
Chegamos assim à última questão: quais são as perspectivas da família e que fazer para que as mulheres reconquistem sua autonomia. É significativo que quase todas as mulheres do movimento de liberação, que reconhecem a necessidade de reestruturar a família, se dêem conta, também, que este objetivo está estreitamente ligado à reestruturação da própria sociedade. Ao mesmo tempo, não se limitam a esperar passivamente a revolução social que traga a liberação, mas trabalham para conseguir este objetivo através de uma pressão constante sobre os poderes constituídos. Já se produziram importantes mudanças no terreno do sexo, do casamento e da família.
Tomemos como exemplo uma das reivindicações mais importantes da mulher atualmente: a legalização do aborto. As mulheres dizem que até que se descubra uma pílula completamente inofensiva e eficaz e outros meios anticoncepcionais, devem poder terminar uma gravidez não desejada. Já se conseguiu muitas conquistas importantes e legais como resposta a essa reivindicação e podemos predizer que outras se seguirão. Mas existe outro aspecto mais profundo nesta batalha: as mulheres estão contestando diretamente o sistema social atual dominado pelo homem, na sua luta por adquirir o controle de seus próprios processos reprodutivos.
Esta não é a única ofensiva lançada pelas mulheres para recuperar o controle de seu corpo. O aumento contínuo de divórcios indica que a mulher começa a dispor de sua vida sexual sem se preocupar muito com sua regularização matrimonial. Durante anos a “revolução sexual”, como foi chamada, avançou mais ou menos secretamente. Atualmente está plenamente exposta à luz, graças ao movimento de liberação da mulher. Hoje as mulheres desprezam e são contrárias à hipocrisia da “dupla moral” que garante aos homens uma liberdade sexual negada a elas. Esta “explosão sexual” alcançou quase todos os setores de nossa sociedade. Relações sexuais pré-matrimoniais, extramatrimoniais e não matrimoniais são hoje algo tão comum que, como disse Marya Mannes na televisão, “O casamento jaz em ruínas ao nosso redor.” Registra-se um progresso notável em comparação com as atitudes e perspectivas das mulheres, inclusive as mais avançadas do século XIX, que lutavam por seus direitos civis, mas continuavam sendo conservadoras nas questões de sexualidade feminina. A maioria delas sustentava ainda a validade da ética puritana, que condenava o amor fora do leito matrimonial como “luxúria”, como algo imoral e pecaminoso.
Atualmente, contudo, as cartas foram colocadas na mesa. As mulheres do movimento de liberação não lutam apenas por possuir o controle de seu corpo e de sua mente mas reclamam um tipo completamente novo de moralidade sexual e social. Condenam a hipocrisia, a culpa e a vergonha, em relação às suas necessidades sexuais, que visa prendê-las a um casamento indissolúvel. Como disse uma mulher, “a gente deve sentir-se ligada pelo amor e não por um contrato”.
Do mesmo modo, a mulher desencadeou uma ofensiva contra sua degradação sexual na publicidade e nos meios comerciais, destinados a vender bens de consumo. Denunciam seus exploradores que, para vender sua mercadoria, aviltam o sexo feminino com todos os truques pornográficos que têm à sua disposição.
Este é outro dos aspectos da campanha lançada pelas mulheres para colocar em evidência o moralismo hipócrita da sociedade capitalista. Outro aspecto é o que constitui sua reprovação aos homens que tentam aproveitar-se da liberdade sexual da mulher apenas para satisfazer seu próprio egoísmo machista.
E isto não é tudo: a tendência para novas normas sociais e sexuais; impulsionada pelas mulheres do movimento de liberação, estendeu-se ao campo da moralidade familiar. Durante anos as mulheres ouviram dizer, e muitas vezes acreditaram, que a mais elevada e satisfatória expressão do amor se encontra na unidade e no afeto familiar. Muitas descobrem, agora, que isto é também uma falsificação da realidade. O amor familiar saiu danificado e mutilado por uma sociedade baseada no consumo, na disputa brutal nas distinções de classe e racista e na alienação que estas condições comportam.
As mulheres, na procura de uma nova moralidade familiar, estão articulando e compreendendo o que está equivocado atualmente nesta instituição. Em nossa sociedade comercializada, principalmente nos lares da classe média, o amor se mede pelo número de coisas que os pais compram para os filhos e pelo que fazem por eles, sob a forma de privilégios especiais. Isto, por outro lado, faz com que as crianças se convertam em propriedade privada de seus pais e permaneçam sob seu controle como outra forma qualquer de propriedade. Isto foi exposto assim:
O amor é uma palavra que exige nova definição... e uma arma de controle. E a tentativa por parte de alguém para converter o outro em objeto que satisfaça seu próprio egoísmo e suas próprias necessidades de segurança. Assim, alguém se converte em uma espécie de móvel caro e muito elaborado na vida do outro.(6)
Um ponto de vista semelhante é exposto por Linda Gordon, em uma excelente revista teórica publicada em Baltimore, Women: a Journal of Liberation.
Ela escreve:
O fato de frequentemente confundirmos o amor materno ou paterno com a propriedade nos faz compreender até que ponto o próprio amor se converteu em artigo de consumo em nossa sociedade capitalista. Amor não significa propriedade. A propriedade, quando afeta um ser humano, se chama escravidão.
O núcleo familiar, restringido, paralisado, frequentemente amargurado, no qual as disputas e a animosidade recíproca prevalecem muitas vezes sobre a harmonia, está longe de ser a melhor mostra de relações humanas. A conhecida “rivalidade entre irmãos”, que alguns querem fazer acreditar que sai dos próprios genes, é simplesmente um reflexo, dentro da unidade familiar, da competição, do temor, da insegurança, dos ciúmes e da inveja que prevalecem em toda sociedade capitalista. Os mesmos fatores que levam à alienação os membros da família, convertendo-os em estranhos, um para o outro, dividem também uma família da outra, impedindo-as de reconhecer quem é seu inimigo comum e empreender uma ação comum para combatê-lo. Para que descubram todos estes aspectos reacionários da família, que têm sido durante tanto tempo glorificada como a melhor de todas as instituições possíveis, e se tornem claros para as mulheres, é necessário ainda muito tempo.
As dificuldades com as quais se defronta a mulher branca se multiplicam quando se trata de mulheres negras e procedentes do Terceiro Mundo. Frances Beal, coordenadora nacional do Comitê de Liberação de Mulheres Negras do SNCC, realizou uma excelente análise do que significa ser mulher e negra nesta sociedade, em um artigo publicado na antologia The Black Woman, editada por Toni Cade. Maxine Williams, da Aliança de Jovens Socialistas de Nova York, e da Aliança de Mulheres Negras, nos proporcionou uma análise esclarecedora sobre “A mulher negra e a luta pela liberação”, em The Militant de 3 de junho de 1970.
Que contribuição trouxeram estes artigos? O elemento fundamental que impulsiona o movimento de liberação é, para as mulheres, a reconquista de sua autonomia. Para alcançá-la se veem, por um lado, obrigadas a continuar a batalha por seus direitos como mulheres trabalhadoras, e pela completa igualdade de trabalho e salário com os homens. Por outro lado, como mulheres, se veem obrigadas a criticar severamente a instituição do casamento e da família, que lhes havia sido mostrada como natural e eterna. Começaram a chegar à inevitável conclusão de que uma instituição que serve aos interesses dos capitalistas não pode servir aos da classe trabalhadora ou aos interesses das mulheres.
Mais ainda, as mulheres do movimento de liberação veem além da unidade familiar, veem o próprio sistema capitalista e questionam sua existência. Ao menos nos setores mais avançados são aceitas as premissas básicas de Engels, que são premissas marxistas, sobre a natureza da sociedade capitalista. Conforme as jovens rebeldes vão amadurecendo, assim como os homens, veem que é indubitavelmente o sistema mais imoral e degenerado de toda a história. Vivemos em uma sociedade de guerras exterminadoras, de opressão racial e sexual, de embrutecimento do pobre e indefeso; uma sociedade que polui seu céu, seu alimento, seu ar e sua água, que gera políticos corruptos. Resumindo, é um sistema no qual tudo está subordinado e sacrificado à propriedade privada.
Tudo isto é tão repulsivo para as mulheres militantes que o movimento de liberação se lança com um forte componente anticapitalista. Como diz o editorial da publicação de Baltimore: “As mulheres não pedem nada menos que a transformação total do mundo”. Esta corrente anticapitalista e filo-socialista provavelmente irá aumentando.
O ponto sobre o qual a maioria destas mulheres se mostra indecisa é o tipo de sociedade que substituirá o capitalismo e os meios e as forças necessárias para esta mudança. Algumas se “desviaram” para os diferentes grupos “radicais” que não são genuinamente marxistas e não compreendem o que significa o movimento de liberação da mulher. Mostram-se corretamente críticas diante das burocracias de países pós-capitalistas, como a União Soviética, que não colocou em prática um programa pela liberação da mulher. Muitas descobrirão, em breve, e muitas já o fizeram, que o programa e as tradições de Marx e Engels continuam presentes, inclusive hoje, nas organizações revolucionárias da Aliança de Jovens Socialistas e do SWP (Socialist Workers Party).
Contudo, no breve espaço de um ano, o movimento de liberação da mulher deu passos gigantescos, tanto que a tentativa inicial de ridicularizar as mulheres empenhadas na luta falhou e em alguns terrenos desapareceu totalmente. Em seu lugar, cresce o respeito pelo movimento e cresce, inclusive, a esperança por parte de alguns homens simpatizantes, de que a luta pela liberação da mulher possa apoiá-los na luta pela sua própria liberação. Richard E. Farson expressou-se neste sentido em um artigo chamado “A raiva das mulheres”, publicado em Look em 16 de dezembro de 1969:
“Poderia haver uma saída magnífica para tudo isto”, escreve referindo-se ao papel “humanizante” que as mulheres tiveram na história. “O efeito sobre os homens pode ser realmente saudável. Pode ser que, inclusive, ele seja liberado” E conclui:
A revolução da mulher pode conduzir a uma real e genuína revolução humana, na qual já não aceitaremos sistemas inferiores ao nosso potencial, não permitiremos que sejamos explorados e decepcionados, já não admitiremos a contaminação de nosso ambiente nem o perigo a que estão expostos nossos filhos, no qual não suportaremos a vaidade e a superficialidade das relações humanas, onde não mais toleraremos que a guerra e a violência resolvam os problemas humanos.
De fato, esta convocação para a “revolução humana” não é outra coisa que uma convocação para a revolução socialista que nós, militantes do movimento marxista, temos nos empenhado em levar adiante com todos os meios à nossa disposição. Sabemos que a luta pela liberação da mulher não poderá conduzir por si mesma à solução do nosso dilema atual. As mulheres têm necessidade de aliados nesta luta cruel por uma nova e melhor sociedade. Estes são encontrados entre os operários, entre os estudantes rebeldes, entre os negros e outros setores oprimidos.
Ao mesmo tempo, conforme o movimento de liberação da mulher adquire maior credibilidade e penetra mais profundamente entre as mulheres trabalhadoras, pode atuar como catalisador para colocar em movimento o potencial anticapitalista das forças da classe operária. Como resultado destas experiências e lutas conjuntas, adquirirá novo significado a velha palavra de ordem marxista: “Não temos nada a perder a não ser nossas cadeias; temos um mundo todo a ganhar”.
Notas de rodapé:
(1) The Mothers. (retornar ao texto)
(2) V. E Calverton, “Sex and Social Struggle”, in Calverton e Schmalhusen, Sex and Civilization. (retornar ao texto)
(3) Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. (retornar ao texto)
(4) The Mothers. (retornar ao texto)
(5) The Age of Faith. (retornar ao texto)
(6) Carola Hanisch e Elisabeth Sutherland Martínez, in The Militant, 26 de dezembro de 1969. (retornar ao texto)
| Inclusão | 08/05/2014 |