
MIA > Biblioteca > Georg Lukács > Novidades
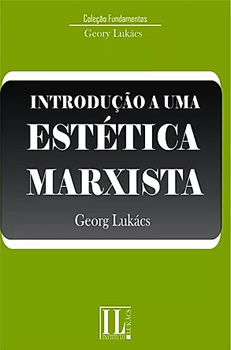
É sabido que a verdadeira teoria da estética, a formulação científica daquilo que constitui o específico das categorias estéticas, esteve sempre em atraso com relação à práxis artística. Enquanto desde as mais primitivas fases de desenvolvimento da humanidade nascem obras de arte realizadas, ou seja, os próprios artistas descobrem em sua práxis (frequentemente com infalível segurança) as categorias estéticas, colocando-as em relação recíproca, aplicando-as a novas matérias, etc., a compreensão teórica do que foi até então realizado na arte é primitiva, esquemática ou mesmo errônea. Comparem-se, para ficar num exemplo simples, mas tanto mais evidente, as antigas anedotas sobre a arte (Zeuxis e Parrasio, Pigmalião, etc.) com a própria práxis: um completo realismo que se mantém distante, com a mesma despreocupada segurança, do formalismo abstrato e do naturalismo fotográfico, por um lado, e a grosseira ilusão de confundir a obra de arte com o modelo natural, por outro, como critério da mais alta atividade artística. Contudo, mesmo em pensadores como Platão — que, diga-se de passagem, é um grande artista em seus diálogos juvenis — surgem as objeções naturalistas mais banais contra a arte. Não é objetivo deste estudo pesquisar os fundamentos filosófico-culturais destas argumentações; elas podem conter, independentemente da pertinência estética, indicações críticas muito importantes. O que nos interessa aqui, tão somente, é saber se e em que medida a reflexão teórica sobre a arte está apta a descobrir a sua essência estética. É claro que Platão, que foi o primeiro a tentar desenvolver filosoficamente a ingênua e espontânea concepção da arte como reprodução da realidade, é também o primeiro a subordinar a arte à generalização filosófica. Desta posição decorre a hierarquia platônica de criação (criador), ideia mimética (demiurgo) e imitação da imitação (arte). É necessário observar, neste ponto, que temos em Platão uma crítica e uma refutação filosófica da arte inclusive no mais alto nível de sua capacidade criativa, e não uma crítica do naturalismo. Platão era contemporâneo e conhecedor da arte e da literatura gregas em sua mais alta floração. Mas deve-se ao seu idealismo extremo e retrógrado a opinião de que mesmo a forma artística clássica e completa tem necessariamente de ignorar a essência da realidade e, por isto, do ponto de vista filosófico, deva decair ao mesmo nível da cópia naturalista da imediaticidade. Ele pergunta, no último livro da República, a respeito da pintura:
Reflita-se agora no seguinte: a que finalidade serve a pintura no caso individual? Ela quer imitar o ser essencial das coisas tais como são, ou a sua aparência tal como se revela ao olho? Ela é uma imitação da aparência ou da verdade?.(1)
Platão afirma, naturalmente, a primeira coisa. É evidente que assim se rechaça tudo aquilo que, através das formas da arte como formas da realidade a reproduzir, faz precisamente com que a arte seja arte. Aristóteles sentiu isso com precisão, e — na Poética — polemiza contra a opinião platônica, mesmo sem citá-la expressamente.
Do ponto de vista metodológico, por trás deste atraso da teoria estética (naturalmente não apenas da dos gregos), esconde-se um grande pensamento, fecundo e verdadeiro: a convicção de que a arte — como a ciência, como o pensamento ligado à vida cotidiana – é um reflexo da realidade objetiva. Se se abandona este ponto de vista, tal como ocorre frequentemente na estética decadente, são arrancadas todas as raízes da arte do terreno no qual ela cresce e atua. A aparência de especificidade e de independência, que por este meio lhe é atribuída, desfigura o conteúdo e a forma da arte de um modo tão drástico que esta maneira de explicar a verdadeira essência do que é estético deve ser rechaçada ainda mais intensamente do que aquelas que fazem desaparecer as diferenças entre a arte e os outros modos de refletir a realidade. (Falando da Crítica do Juízo, esboçamos estas conclusões, se bem que, naturalmente, a arte não seja posta ali numa redoma de cristal, como ocorre nas teorias burguesas decadentes.) Por isso, é compreensível que a estética de etapas históricas que assinalavam um progresso tenha marchado sobretudo pelo primeiro caminho. Ainda que não nos possamos deter, nem mesmo brevemente, nos detalhes deste desenvolvimento, deve-se observar que — enquanto o critério da verdade na representação artística foi fixado como universalidade científica — a arte, mesmo nos casos em que os pensadores desejam conscientemente o contrário, foi considerada no melhor dos casos como um reflexo específico da realidade objetiva, frequentemente menos perfeito, mas sempre de tipo científico. Na hierarquia do pensamento que se autoaperfeiçoa, a arte deve então limitar-se sempre a um estágio preparatório; é o que ocorre em Leibniz e, inclusive, no sistema de Hegel. Quando, porém, esta hierarquia é invertida, como no jovem Schelling, disto não decorre um conhecimento mais adequado do que é estético, mas sim uma mistificação irracionalizadora. Ora, se deste modo, na direção “para o alto”, em relação à generalização, desaparecem os limites entre reflexo teórico e estético (naturalmente, apenas no pensamento sobre a arte e não na própria arte), eles devem consequentemente desaparecer também “para baixo”, na teoria da reprodução da imediaticidade e da singularidade sensível (mais uma vez, apenas no reflexo da consciência, não na práxis artística).
Já este quadro, mais do que breve, indica como tal complexo de problemas da teoria estética se acha em estreita correlação com nossa questão, com o problema da particularidade. Como já dissemos, é sabido o atraso com que, na filosofia, atingiu-se a clareza sobre esta questão; lembramos também, a respeito, a crítica que Lenin faz de Aristóteles. Também aqui não podemos penetrar nos detalhes históricos. Observemos apenas, brevemente, que o fato de ter negligenciado, de não ter desenvolvido, a categoria da particularidade, não pode de modo algum significar — em um dialético da força de Aristóteles — um fracasso pessoal, mas sim a emergência de um limite colocado pelo desenvolvimento histórico-social. Marx sublinha, repetidamente, a genialidade de Aristóteles também na compreensão de problemas econômico-sociais. Aristóteles analisou filosoficamente não apenas a troca de mercadorias, mas também a relação de valor e a expressão do valor. Ele compreendeu com justeza que a troca coloca qualidades diversas em uma certa relação de igualdade, estabelecendo entre elas uma mensurabilidade; “mas ele para aqui, renunciando à posterior análise da forma do valor”.(2) Aristóteles vê, inclusive, na igualdade por ele mesmo constatada, algo “estranho à verdadeira natureza das coisas”;(3) isto é, uma determinação não natural, mas puramente social. Em sua posterior análise, todavia, Marx mostra que Aristóteles não estava em condições de chegar até o conceito de valor porque, como pensador de uma sociedade escravista, não podia ver no trabalho a categoria central da economia. O mesmo limite se apresenta em Aristóteles, ao lado de uma indicação genial, na distinção entre economia e crematística. A primeira designa, em seu sistema, uma produção para consumo próprio, compreendidos também eventualmente atos de troca cuja finalidade seja este consumo pessoal. A segunda, a troca de mercadorias propriamente dita, a economia monetária. Aristóteles, contudo, não tem condições de fazer derivar social e historicamente a segunda forma da primeira. Ele condena a crematística, e sua exposição limita-se à constatação da antítese.(4) Este limite — devido à sua formação econômica — tem como consequência o fato de que lhe permaneça vedada a visão da dialética das determinações sociais que podemos observar em Hegel. Em especial, a particularidade não pode receber nele uma forma tão independente e funções tão independentes como em Hegel. Também em Aristóteles, naturalmente, surge com frequência a categoria da particularidade; é assim que, por exemplo, ele considera a lei como o particular, o direito natural como o universal. Estas afirmações isoladas não têm nenhuma influência real sobre a dialética da particularidade, cujo desdobramento é impossível em seu sistema. O particular, em muitos casos, é absorvido pelo universal e, ainda mais frequentemente, misturado com o singular enquanto antítese do universal.
Esta estrutura fundamental do sistema, naturalmente, repercute também na estética. Aristóteles deu ao desenvolvimento da estética um impulso duradouramente salutar, na medida em que, por um lado, colocou no centro da estética o reflexo da realidade objetiva e não o reflexo das ideias, como no neoplatonismo; por outro lado, porém, e ao mesmo tempo, este reflexo foi por ele energicamente diferenciado da cópia puramente mecânica da realidade. É seu imperecível mérito o fato de ter formulado claramente, pela primeira vez, a generalização específica que ocorre na reprodução poética da realidade. Aristóteles vê precisamente aqui a essência e o valor da poesia. Quando diz que a tragédia é mais filosófica do que a historiografia (que então ainda não se tinha desligado inteiramente da literatura artística e ainda não era uma ciência autônoma), isto refere-se precisamente à expressão de uma superior generalização.(5) Se, graças a isto, Aristóteles traçou nitidamente os limites entre a reprodução estética da realidade e a imitação naturalista da mera singularidade, do mero “aqui e agora”, o lugar central assumido pela categoria da universalidade nesta sua operação teórica faz desaparecer, por sua vez, os limites entre generalização artística e generalização científica. A estética que daí decorre não supera a interpretação desta universalidade e busca atingir uma concepção do que é especificamente artístico mantendo esta determinação.
Ainda que fosse interessante, devemos renunciar a dar até mesmo um esboço deste desenvolvimento; para formular mais claramente o nosso problema, limitar-nos-emos a tomar um exemplo conhecido, no qual a problematicidade desta determinação ganha clara expressão. Referimo-nos à polêmica de Lessing com Diderot e Hurd, na Dramaturgia de Hamburgo. Ela é característica notadamente porque, na época desta discussão, aquelas “formas de existência, determinações de existência” sociais (Marx), cujo surgimento transformou a particularidade em uma questão importante para os filósofos, começavam a exercer uma crescente influência sobre a produção artística e sobre a sua teoria. A determinação social das ações e dos caracteres humanos torna-se cada vez mais consciente; a importância e o tipo de sua influência sobre os fatos e sobre os destinos tornam-se cada vez mais complicados. A relação entre o indivíduo e sua situação social (camada, classe), entre vida pública e privada dos homens, recebe determinações novas, mais intricadas e mais mediatizadas. (Já anteriormente sublinhamos a função cada vez mais acentuada do acaso, sob o capitalismo, na inclusão em uma classe de um homem individual). O efeito destes momentos objetivamente sociais é subjetivamente ainda maior porque os ideólogos da burguesia ascendente tentam interpretar estes novos fenômenos do ponto de vista da sua classe e, de um modo polêmico, contra as explicações dadas pelas camadas dominantes do passado. Muito daquilo que a arte da Antiguidade, do feudalismo e mesmo do absolutismo feudal tinha assumido como natural, como imediatamente evidente nas relações sociais dos homens, em seus condicionamentos sociais, surge agora para a arte e para a estética como carente de uma explicação particular.
Como na maior parte dos campos da ideologia progressista burguesa em formação, também neste caso Diderot abriu o caminho para que os problemas da nova realidade recebessem, tanto do ponto de vista artístico quanto do estético, uma formulação energicamente avançada. A sua formulação do problema é bastante audaz: o novo drama não deve levar à cena personagens, mas sim o que ele chama de “conditions”.(6) Deste modo, levanta-se uma questão que é para nós de extrema importância. Quando Lessing analisa estas afirmações de Diderot, bem como as de Palissot e de Hurd (que polemizam com Diderot), resulta que estas concepções — tão frequentemente em aguda contradição recíproca — possuem algo em comum: na figuração artística do homem de sua época, todas querem ir além do que é puramente individual para compreenderem em si, de um modo imediato, implícito e imanente, o momento da determinação social. Em outro ponto, Diderot concretiza assim a questão, com relação ao conteúdo e à forma dos gêneros artísticos: a tragédia plasma a individualidade, ao passo que a comédia tem por finalidade a representação do que ele chama de “espèces” (do contexto das suas considerações, torna-se evidente que ele pensa aqui, mais ou menos, no que uma terminologia mais evoluída chamaria de tipo). Neste ponto, é particularmente interessante para nós o fato de que, segundo Diderot, o drama burguês, o “genre sérieux” — e, portanto, a forma artística que ele busca fundar teórica e praticamente — deva ocupar uma posição intermediária entre a tragédia e a comédia, isto é, deva realizar o que é puramente típico na direção de uma aproximação ao que é individual.
Em todas estas considerações, podemos perceber a luta por uma nova estética, que pretende superar os extremos deformados pela excessiva generalização, isto é, o meramente individual e o abstratamente universal, colocando em seu lugar um novo tertium datur. Diderot critica este universal abstrato referindo-se, sobretudo, à universalidade dos tipos cômicos; segundo ele, o herói do Avaro de Molière não é tanto um homem avaro como a avareza. A introdução das “conditions” na práxis dramática é por ele considerada como um meio para superar esta universalidade abstrata. Surgem, assim, momentos importantes de uma dialética que conduz ao concreto; em primeira instância, o caráter continuamente variável das “conditions”. “Pensai, diz Diderot, no fato de que todo dia se formam novas “conditions”.(7) Ele vê na introdução destes novos conteúdos de vida um princípio chamado a subverter não apenas os lineamentos da estrutura dramática, mas também a inteira elaboração dos detalhes. Acrescento apenas um exemplo no que diz respeito à transformação da técnica dos caracteres: “Antes de tudo, é preciso não dotar os próprios personagens de espírito, mas sim colocá-los em situações que lhes deem espírito...”.(8) E Diderot vai tão longe, nesta ocasião, que chega a ver na unidade dos caracteres uma simples quimera.(9)
Não obstante estas indicações extremamente vigorosas e originais em importantes questões singulares, a dialética de Diderot — ainda não desenvolvida realmente, ainda não bastante consequente — retorna à universalidade abstrata quando enfrenta problemas centrais. É o que Lessing demonstra com muita clareza, ao examinar a crítica de Palissot às afirmações de Diderot. Lessing afirma que a maior deficiência de Diderot, na teoria como na prática, consiste no fato de que esta emergência das “conditions”, tão nitidamente acentuada, conduz à concepção dos chamados caracteres perfeitos. Diderot parte, com justeza, do princípio de que todo caráter plasmado dramaticamente deve se encontrar em perfeito acordo com as próprias “conditions”. Contudo, dado que este acordo é concebido como harmonia no sentido literal e não naquele dialético e rico de contradições, dele deriva necessariamente a exigência dos caracteres perfeitos:
Seus personagens — diz Lessing — não se comportam jamais diversamente de como requer a consciência de seus próprios deveres: agem como está escrito no livro. Mas é isto que esperamos, em uma comédia?... O escolho dos caracteres perfeitos, ao que me parece, não foi suficientemente valorizado por Diderot. Em seus trabalhos teatrais, aponta o leme do navio diretamente contra eles, enquanto nas cartas marinhas que o acompanham (isto é, em seus escritos teóricos) não encontramos nenhuma indicação que previna contra a sua presença; ao contrário, encontramos mesmo indicações que nos impelem precisamente naquela direção.(10)
Deste modo, encontramo-nos novamente em face daquela universalidade que Diderot pretendia precisamente superar. Lessing vê claramente que este obstáculo só pode ser superado com o auxílio da contradição dialética. Falando, logo após, da outra exigência colocada por Diderot — isto é, a de que o princípio dominante nos caracteres não deve ser o contraste, mas a pura e simples diversidade —, ele diz: “Ademais, é certo que os caracteres, que em um ambiente tranquilo parecem ser apenas diferentes, encontram-se em decisivo contraste tão logo surja alguma altercação ou interesse a pô-los em movimento”.(11)
Lessing já se refere aqui, com suficiente clareza, ao modo pelo qual a involuntária universalidade de Diderot deve ser superada, isto é, pela concretização das contradições contidas nas “conditions”, as quais — quando se modifica a situação — cessam de ser latentes para se tornarem explícitas. Aqui, todavia, revela-se a discrepância que constatamos precedentemente entre teoria estética e práxis artística; Lessing limita-se a esta intuição genial e termina por cair, como veremos, mesmo do ponto de vista teórico, ainda que diferentemente de Diderot, nas antinomias da universalidade na estética. Em compensação, os seus melhores dramas — no desdobramento prático das contradições e das determinações contraditoriamente concretas (das particularidades concretas) — superam decisivamente Diderot.
Naturalmente, em Lessing, existe também um progresso teórico com relação a Diderot. Lessing critica a tese, fundamental para Diderot, segundo a qual a tragédia representaria indivíduos, ao passo que a comédia representaria espécies (puros tipos). A este respeito, retorna à comparação aristotélica, por nós já citada, entre drama e história. Mas também aqui não ocorre um substancial esclarecimento sobre o problema central, já que — nas considerações de Lessing — singularidade e particularidade são utilizadas apenas como conceitos opostos à universalidade, sem que a sua diversidade (ou melhor, a sua oposição) possa enriquecer ou fecundar a teoria estética. De qualquer modo, é um progresso o fato de Lessing — apoiando-se em Aristóteles — não reconhecer a distinção feita por Diderot entre caracteres trágicos e cômicos:
Tanto uns como outros, sem excluir nem mesmo os da epopeia, isto é, todos os personagens da mímese poética, devem falar e agir não de um modo que poderia convir só e exclusivamente a eles, mas do modo como poderia e deveria falar e agir qualquer um que tivesse um caráter análogo e se encontrasse nas mesmas circunstâncias.(12)
É evidente que Lessing luta por uma mediação estética entre singular e universal, pelo particular, pela determinação estética do típico.
O teórico Lessing, todavia, não quer superar Aristóteles. Limita-se à contraposição aristotélica de universalidade e singularidade dos caracteres, do que decorre necessariamente que — do ponto de vista teórico — ele consiga perceber o que é típico nos caracteres somente sob a forma dos traços imediatamente comuns. Quando polemiza contra a falsa interpretação de Aristóteles praticada por Dacier, o que lhe importa é tão somente que — permanecendo firmemente estabelecida a determinação dos caracteres como singulares (denominação em Aristóteles) — a personificação dramática “não vise a captar o lado singular destes mesmos personagens, mas tão somente ao universal”.(13) Novamente Lessing, como também por vezes Diderot, aflora — quando a teoria entra em mais estreito contato com a práxis dramática — uma concepção mais concreta, que vai além da universalidade (por assim dizer) geral e meramente universal e busca formular a generalização especificamente poética. “Pois segundo eles — objeta Lessing a Dacier e a Curtius — seriam apenas caracteres personificados os que o poeta fizesse falar e agir, enquanto o que devem ser é personagens caracterizados”.(14) (É evidente que Lessing, com a expressão “caráter”, pensa em tipos universais, tais como se encontram, por exemplo, em La Bruyère e geralmente nos moralistas dos séculos XVII-XVIII, e também aqui, portanto, numa espécie de universalidade científica.).
A fim de tratar do problema em toda a sua amplitude e profundidade, Lessing mobiliza também as observações do teórico inglês da estética, Hurd. Também este parte do princípio de que os personagens da comédia têm um caráter geral, enquanto os da tragédia têm um caráter particular. Sob este aspecto, o ponto de partida de Hurd assemelha-se muito ao de Diderot; também ele polemiza contra a tipicização molieriana dos personagens mais ou menos no mesmo sentido, com algumas diversidades do ponto de vista artístico, na medida em que na “paixão pura e simples” de Molière ele sente a carência das “luzes e sombras” que tornam um personagem realmente vivo; segundo Hurd, é necessário representar uma “paixão dominante” em contínua mistura com diversas outras paixões.(15) Vai ainda mais longe na pesquisa da universalidade como critério artístico típico dos caracteres particulares na tragédia. A verdade pode inexistir até mesmo quando na particularidade atinge-se a harmonia com a realidade; a exata reprodução das particularidades não conduz a nada se não se capta “a ideia universal do gênero”.(16) Neste ponto, é muito interessante observar como Hurd interpreta o conhecido confronto aristotélico entre Sófocles e Eurípides. Aristóteles afirma que Sófocles teria representado os homens tal como devem ser, Eurípides tal como realmente são. A antítese é aqui entre idealização e realismo (eventualmente naturalismo); a criação no primeiro caso é comparada a um ideal, ou a um dever ser; no segundo, à própria realidade. Pouco importa se esta afirmação de Aristóteles expressa adequadamente, do ponto de vista estético, a diferença entre os dois grandes trágicos; de qualquer modo, Hurd a interpreta de forma a excluir completamente qualquer dever ser. São duas atitudes diversas em face da mesma realidade que são aqui confrontadas. Sófocles, que está em meio à vida e tem uma experiência prática, vai além da “restrita representação” da singularidade, amplia todo caráter “até que ele atinja o completo conceito do gênero”, enquanto o “filosófico Eurípides”, muito mais afastado da vida, concentra o seu olhar sobre o singular, dissolve a “espécie no indivíduo”, de tal modo que os seus caracteres são certamente “naturais e verdadeiros”, mas carecem daquela superior semelhança universal que é requerida pela verdade poética.(17)
Aqui é ainda mais claro do que em Diderot que a estética do século XVIII lutou sempre energicamente para superar o conceito da universalidade que serve de critério a Aristóteles: não certamente na forma de uma ruptura com Aristóteles, ou através de uma crítica de princípio à sua concepção, mas mediante a tentativa de interpretar o que ele verdadeiramente pensava. A dificuldade que a este ponto se apresenta continuamente em seus raciocínios é, para dizê-lo brevemente, o fato de que o conceito do típico, por cuja formulação estética eles lutam, implica realmente, por uma parte, numa generalização dos fenômenos singulares da vida imediata e, por outra, contudo, sempre que é captado não como processo de generalização, mas como universalidade existente, isto obscurece — ao invés de esclarecer — o que é artisticamente típico.
Neste ponto, já surge com clareza a diferença — certamente não consciente nos autores que citamos — entre reflexo científico e reflexo estético. De fato, é imediatamente evidente que para a zoologia, por exemplo, um animal singular é tão mais típico quanto mais nele se tornarem imediatamente perceptíveis as características gerais do seu gênero. Mas como se deve entender o “gênero” ao qual a Electra de Sófocles corresponde mais do que a de Eurípides? Em sua detalhada análise, Hurd percebe muito claramente esta dificuldade. Ele sublinha aquilo que, em Molière, sente como sendo universalidade abstrata da caracterização, enquanto critica, em Eurípides, a exagerada aproximação ao singular. Mas quando chega ao ponto em que vê a mais autêntica realização, isto é, nas tragédias de Sófocles, não tem condições de construir sobre a base do seu exato juízo crítico uma correspondente teoria estética justa.
A fonte desta ambiguidade é, evidentemente, como também em Diderot, uma concepção não ainda dialética do gênero. Na medida em que este é ainda entendido exclusivamente no sentido da ciência natural classificatória e não ainda evolucionista e é aplicado indiferenciadamente ao gênero humano, é impossível apreender com o pensamento uma relação dialética entre homem individual e gênero humano. Tão somente as primeiras teorias evolucionistas, como indicamos, fundamentadas pelos conhecimentos sobre a estrutura e sobre as modificações estruturais da sociedade, que foram aprofundadas com as experiências da Revolução Francesa, podem criar neste ponto uma base conceitual. Para ilustrar esta situação, gostaríamos de citar algumas observações de Balzac, que se refere expressamente à discussão entre Geoffroy de Saint-Hilaire e Cuvier, bem como ao julgamento que Goethe fazia de tal discussão:
A posição social está sujeita a acasos que a natureza não se permite, já que tal posição resulta da natureza somada à sociedade. A descrição das espécies sociais compreenderia, portanto, pelo menos o duplo das espécies animais; e isto se só se levasse em consideração os dois sexos. Em suma, nos animais ocorrem poucos dramas, jamais surge uma confusão entre eles; correm uns para os outros, isso é tudo. Os homens também correm uns sobre os outros, mas sua maior ou menor inteligência toma o combate extremamente mais complicado... Assim, é certo que o botiqueiro torna-se par da França, e o nobre decai por vezes ao mais baixo nível social.(18)
Dado que Hurd não tinha (e não podia ter) um semelhante conceito dialético da relação entre gênero e indivíduo, era obrigado a se refugiar no antigo conceito da universalidade, sem ser capaz de especificar este conceito de um modo correspondente aos problemas específicos da estética. Deste uso inconscientemente dúplice — consciente na aplicação teórico-científica, instintivo em toda concreta aplicação com um significado estético apenas intuído – o conceito de universalidade recebe uma cambiante pluralidade de significados, dificilmente perceptível.
O fato de que Lessing veja claramente a dificuldade que surge neste ponto, expressando-a com sinceridade e sem meios-termos, depõe a favor do seu alto senso teórico. Seus comentários sobre Diderot, e notadamente sobre Hurd, provam que ele está inteiramente de acordo com muitas análises concretas destes. Todavia, quando retoma a discussão, chega a uma afirmação extremamente interessante e importante: “o termo universal é aqui evidentemente entendido em dois sentidos inteiramente diversos. Segundo um deles, Hurd e Diderot negam ao personagem trágico a universalidade, precisamente na base de um significado através do qual o próprio Hurd, ao contrário, atribui tal universalidade”. Lessing concretiza a sua crítica à duplicidade desta terminologia, observando que a universalidade foi usada em dois significados inteiramente diversos. Em primeiro lugar, como “caráter caricato”; em segundo, como média, como caráter “normal”. Ele dá razão a Hurd quando afirma que Aristóteles usou sempre a universalidade no segundo sentido. (Aqui é claramente visível como a universalidade filosófica pode levar a equívocos na estética. Pode ter sido teoricamente necessário, partindo dos pressupostos de Aristóteles, que a expressão universalidade recebesse este sentido, mas é impossível que ele acreditasse seriamente que os heróis das tragédias gregas fossem homens médios.) Lessing coloca com razão, em relação aos caracteres dramáticos, a seguinte pergunta: “Como é possível ser ao mesmo tempo exagerado e normal?”.(19) Limita-se, porém, a indicar a dificuldade, a antinomia que está contida no conceito de universalidade para a dramaturgia (para a estética), e recusa-se a dar uma solução.
Assim, este importante debate sobre o típico, sobre a questão central da representação realista e artística na literatura (Hurd tenta aplicar os princípios que aqui surgem também à pintura), termina com a clara formulação de uma antinomia insolúvel. De fato, é evidente que Diderot, Hurd e Lessing buscam a lei da representação dos tipos precisamente nas condições específicas da nascente sociedade burguesa, ainda que Hurd e Lessing se queixem continuamente de Aristóteles. Eles reconhecem que não se trata, em nenhum caso, de imitar simplesmente a natureza, de reproduzir os traços singulares na sua singularidade. Veem claramente, portanto, a necessidade da generalização artística. Mas esta tendência, quando é fixada como conceito de universalidade, termina por cair na antinomia do superior e do médio. Não é inteiramente equivocado considerar este fenômeno, no terreno estético, como um paralelo das antinomias teóricas de Kant. E isto ainda mais porque a base filosófica das antinomias é a mesma em ambos os casos: a falência, no que diz respeito ao particular, daquela construção conceitual que se apoia na práxis das ciências naturais meramente classificatórias em face dos novos problemas daquele período, em face do problema teórico fundamental da estética, colocado na ordem do dia pelo desenvolvimento social. Contudo, a diferença é mais substancial do que a afinidade. Kant fixa suas antinomias como limites à “nossa” faculdade cognoscitiva, ao passo que Lessing — certamente em sua práxis de poeta, não em suas considerações teóricas — vai muito além destas antinomias. Telheim, Nathan, o templário, o príncipe, Orsina, etc., são tipos no sentido estético da palavra, nem caracteres médios e tampouco superiores. Como poeta, Lessing sabe muito bem que a unidade dos caracteres é uma unidade em movimento dialético das suas determinações essenciais (tanto sociais quanto individuais). A universalização nasce do fato de que homens determinados (particulares) da sociedade são movidos por forças semelhantes; por isto, reconhecem a si mesmos e ao seu destino no caráter e na trama dos dramas de Lessing, mesmo quando não pareçam ter externamente nenhuma relação imediata com estes personagens. Existe, portanto, uma generalização sui generis, para cuja determinação teórica aquele conceito de universalidade — que na ciência e na filosofia se desenvolveu e conservou — não é um veículo, mas sim um obstáculo.
Há muito tempo este problema era percebido. Diderot, Hurd e Lessing, porém, eram pensadores muito sérios para, diante das dificuldades, se refugiarem num irracionalismo estético do “je ne sais quoi”, como muitos dos seus predecessores e contemporâneos.
Eles buscam, por isto, uma categoria estética que relacione no pensamento a superação do singular com a generalização concreta continuamente realizada, típica das obras de arte, uma categoria que — mesmo ampliando ao máximo o campo da arte — não abandone, mas, ao contrário, preencha as suas mais profundas exigências. Diderot e Hurd têm um claro pressentimento deste problema; Lessing chega, inclusive, a expressar claramente a problemática que daí decorre. Nenhum deles pôde encontrar uma solução porque, em seus aparatos conceituais, o particular é usado quase como sinônimo da singularidade, já que a teoria de sua época, como já assinalamos, ainda estava muito longe de compreender a dialética específica desta categoria.
Partindo das intuições artísticas, que entram em insolúvel contradição com o mundo das formas teoricamente fixadas, Goethe deu um decisivo passo à frente, atingindo uma clara visão do problema, ainda que certamente sem chegar a uma completa sistematização estética. O tempo decorrido entre Lessing e Goethe não é grande; bem maiores são os acontecimentos, na vida e no pensamento, que preenchem esta etapa intermediária. É sobretudo importante o fato de que a batalha que vinha sendo travada no sentido de elaborar uma ciência da evolução na natureza absorva um período decisivo na vida e na obra de Goethe. Ao contrário de Hegel, cujo pensamento dialético foi estimulado especialmente pelos problemas sociais, os novos problemas e as novas respostas nas ciências naturais são decisivos para o nascimento da dialética goethiana. Ao mesmo tempo, porém, Goethe foi contemporâneo da filosofia clássica alemã, da aquisição consciente do moderno método dialético. Ainda que não se ligasse a nenhuma corrente particular, a amizade com Schiller, a leitura da Crítica do Juízo e as relações com Schelling e Hegel tiveram certamente grande importância na formação de uma dialética específica no seu pensamento.
É sabido que Goethe estudou a fundo a Crítica do Juízo. Possuímos o exemplar desta obra anotado e sublinhado por ele; suas afirmações sobre ela são muito interessantes. No lugar devido, tratamos amplamente da reação de Schelling à Crítica do Juízo. Goethe não se preocupa nem um pouco com o contraste entre pensamento intuitivo e pensamento discursivo, que era fundamental para Schelling, se bem que cite precisamente as proposições mais importantes do trecho decisivo que se refere a isto. Todavia, Kant é para ele tão somente um impulso. O que para este não é cognoscível com os meios do “nosso” pensamento (isto é, objetivamente, com os meios do pensamento metafísico), Goethe considera — graças a uma longa práxis — como cientificamente cognoscível; por isso, coloca de lado — com alguma ironia — tanto a intuição, cujo valor extremamente relativo ele já conhece há tempos, como experiente poeta que é, quanto o “intelecto divino”, considerando estas concepções de Kant como uma confirmação filosófica da sua anterior práxis de cientista. “Se eu”, diz Goethe resumindo,
Anteriormente, de um modo inconsciente e por impulso interno, encaminhei-me infatigavelmente na busca daquele modelo originário, na busca do típico, se me foi inclusive possível construir uma representação conforme à natureza, nada podia agora me impedir de enfrentar corajosamente a aventura da razão, como a chama o velho de Königsberg.(20)
Antes de mais nada, é preciso esclarecer o que seja, em Goethe, este “modelo originário, típico”. Nossa análise vai ao encontro, necessariamente, da cisão da filosofia clássica alemã, bem como daquela cisão específica do método de Goethe. É sabido que a orientação principal era a tentativa de compreender filosoficamente a ideia do desenvolvimento, que penetrara na natureza com as grandes descobertas científicas do fim do século; aliás, já várias vezes nos referimos a isto. Também em Goethe esta tendência se apresenta muito cedo; no início, certamente, com uma consciência filosófica bastante limitada, como um empirismo voltado apenas para a práxis, que continha em si, naturalmente, muitos elementos de um materialismo instintivo, de uma dialética espontânea. O contato com a filosofia clássica torna a dialética de Goethe bastante mais consciente do que em sua juventude, se bem que jamais Goethe tenha chegado a uma completa clareza metodológica quanto ao método dialético.
O que distingue Goethe dos filósofos que lhe são contemporâneos é um materialismo espontâneo. Este materialismo manifesta-se continuamente como oposição aos idealistas, desde o primeiro grande colóquio com Schiller sobre o fenômeno originário. Schiller dizia: “Não é uma experiência, é uma ideia!”. Quase ocorre uma ruptura entre os dois, e somente a habilidade diplomática de Schiller consegue colocar de novo o colóquio sobre um terreno amigável.(21) Por outro lado, aqueles aspectos da dialética cuja definição tinha uma fonte essencialmente social, ainda que depois se verificasse que eram simultaneamente aplicáveis aos fenômenos naturais, foram sempre mais ou menos estranhos a Goethe; como pensador, Goethe jamais tirou as consequências filosóficas das grandes transformações sociais ocorridas em seu tempo. (Na sua práxis poética, naturalmente, revela-se uma situação inteiramente diversa.)
Talvez se possa ilustrar com evidência esta problemática com o exemplo de uma hierarquia de categorias que Goethe publicou nos Suplementos à Teoria das Cores, da qual se infere claramente que ele, na natureza, relaciona a dialética imediatamente ao homem como indivíduo e não como ser social (isto como pensador, não como poeta). Goethe vê a série ascendente das mais importantes categorias dialéticas na seguinte ordem sucessiva: “contingente, mecânico, físico, químico, orgânico, psíquico, ético, religioso, genial”.(22) Poder-se-ia demonstrar, utilizando várias passagens de seus escritos teóricos, que não se trata aqui de um aforismo casual, mas sim do traço principal, instintivo, de sua dialética; a este respeito, limitar-nos-emos a mencionar a “ação sensível-moral das cores”, na Teoria das Cores. Em tudo isto aparece o limite decisivo da dialética de Goethe: o abandono dos conteúdos e das formas sociais tem como consequência que, em sua dialética, inexista praticamente o momento do salto. Aqui não nos referimos à temática do Goethe teórico, nem pensamos no mundo de sua poesia, tão rico inclusive do ponto de vista social; seus escritos literários, artísticos e estéticos indicam com extrema clareza que não se trata aqui de uma falta de interesse em face de uma temática determinada. Em primeira instância, trata-se antes de uma tendência fundamental do mundo de seus pensamentos e de seus sentimentos, que aceita e desenvolve, é verdade, e de uma maneira fecunda, o desenvolvimento dialético com objetividade e com entusiasmo subjetivo, mas que nutre, todavia, uma profunda aversão contra toda “catástrofe”, contra toda passagem “violenta”. Na situação histórica de sua atividade, também desta orientação unilateral decorrem importantes resultados; assim, a sua discordância com Cuvier é certamente ligada à sua teoria das catástrofes, do mesmo modo como, da antipatia em face das soluções puramente trágicas do conflito, surge no Fausto um tipo novo de tragicidade. Mas se considerarmos a totalidade de seu método, estes momentos aparecem nele como limites importantes da dialética.
Se agora considerarmos a influência destas tendências filosóficas de Goethe sobre a sua produção, é indiscutível que um semelhante quadro do mundo — tão rico, movimentado, em contínua evolução e, ao mesmo tempo, ordenado — só podia favorecer a sua criação artística; a indagação das relações recíprocas que disto derivam, todavia, está fora dos objetivos deste nosso trabalho. De uma maneira muito mais completa e problemática, estas tendências se fazem sentir no campo das ciências naturais. Não há dúvida de que a função de pioneiro desempenhada por Goethe, em muitos campos das ciências naturais, está estreitamente ligada com suas vivas intuições dialéticas. É a elas que ele deve o fato de ter tido a possibilidade de romper tão frequentemente com qualquer espécie de esquematismo e de metafísica, de ter estado em condições de descobrir novos fenômenos, de interpretá-los em sua verdadeira dialética, etc. Do mesmo caráter concreto e específico de sua concepção do mundo, deriva, contudo, ao mesmo tempo, uma tendência antropologizante que se faz sentir, particularmente, no escrito que considerava como a obra científica mais importante de sua vida: a Teoria das Cores. Tal tendência se expressa numa apaixonada polêmica contra Newton, na sua antipatia — mantida por toda a vida — para com o uso da matemática nas ciências naturais, na sua repugnância em ir além dos fenômenos imediatos experimentados pelos sentidos (da qual derivava a antipatia pelos microscópios, para não falar do prisma de Newton). Limitar-nos-emos a citar sua aberta profissão de fé, formulada sem nenhuma diplomacia, numa carta a Zelter:
Aqui surge uma consideração já aflorada acima e extremamente característica em toda indagação sobre a natureza. O homem em si mesmo, enquanto se serve dos seus sãos sentidos, é o maior e mais exato aparelho físico existente. E esta é precisamente a grande desgraça da física moderna, a saber, que as experiências tenham sido, por assim dizer, separadas do homem e que se queira conhecer a natureza através do que é revelado por instrumentos artificiais, que assim se queira demonstrar e limitar o que ela pode fazer. A mesma coisa pode-se dizer do cálculo. Há muita coisa verdadeira que não se pode calcular, bem como, por outro lado, muita coisa que não pode conhecer senão uma única experiência decisiva. Em compensação, porém, o homem tem uma posição tão elevada, que nele se representa o que de outra forma não é representável. De fato, o que é uma corda e toda sua subdivisão mecânica com relação ao ouvido do musicista? Aliás, pode-se mesmo perguntar: o que são os fenômenos elementares da própria natureza sem sua relação com o homem, que lhes deve relacionar e modificar globalmente a fim de poder de algum modo assimilá-los?.(23)
Esta tendência antropologizante domina os princípios das considerações goethianas sobre a natureza e transforma o seu método — não obstante notáveis e progressistas conquistas em muitas questões — num grande combatente de retaguarda do ponto de vista da história da filosofia da natureza. O desenvolvimento desta filosofia, a partir do Renascimento, é uma luta contínua entre tendências antropologizantes e desantropologizantes. A superação de Bacon por Hobbes, amplamente descrita por Marx,(24) indica claramente este desenvolvimento inclusive no seio do materialismo. Uma justificação aparente, historicamente relativa, é a de que o antropologismo, em determinados casos, representou o princípio da dialética com relação à metafísica, como ocorre em Goethe na sua luta contra o método puramente classificatório de Lineu e Cuvier. Em geral, porém, esta tendência é simplesmente atraso científico em relação ao veemente impulso das ciências naturais sobre uma base matemática e experimental exata. A complexidade da posição de Goethe está no fato de que ele não representa este método em forma pura, em suas últimas consequências, — como, por exemplo, em sua época, Fludd representou contra Kepler e Gassendi, ou como muitos filósofos romântico-reacionários da natureza entre os contemporâneos de Goethe, — mas ele, ao contrário, chega mesmo em muitos campos a resultados importantes, cujo significado é inteiramente independente do seu antropologismo, se bem que este, como fundamental concepção do mundo, deforme com muita frequência o seu método. E, inclusive com relação às suas considerações metodológicas, pode-se estabelecer esta dupla linha, que sofre aliás muitas oscilações. A famosa afirmação de que a natureza “emudece” na “tortura”(25) (isto é, quando a ela se aplica um procedimento matemático ou experimental exato que transcenda os sentidos do homem) indica, com extrema clareza, a direção — por nós indicada — de seu pensamento. Ao lado desta, todavia, encontram-se frequentemente declarações que demonstram o que muitos resultados de sua práxis revelam a cada passo, isto é, que ele teve ideias muito claras sobre a essência da posição científica em face da realidade. Limitar-nos-emos, também aqui, a um exemplo:
As ciências, no conjunto, se afastam sempre da vida e, somente após uma longa peregrinação, retornam a ela. De fato, elas são precisamente compêndios da vida; elevam as experiências externas e internas ao universal, a uma conexão.(26)
Uma característica bastante importante da concepção goethiana da natureza, para nós, é a sua próxima e íntima relação com a estética. Mas não se deve confundi-la com tentativas aparentemente análogas, como as de Schelling e Novalis. Estes trabalhavam com analogias abstratas entre o processo criativo do artista (ou o próprio artista) e a natureza, de tal modo que a natureza e as suas leis eram completamente mistificadas. Goethe aproximou-se da natureza como observador genial, como apaixonado pesquisador de suas verdadeiras conexões. Ele tem o sentimento profundo de que se está em relação com uma só e mesma natureza, quer se faça arte ou ciência: em ambos os casos, busca-se captar a verdade da natureza, a verdadeira essência dos seus fenômenos, expressando-se adequadamente o que assim se obtém. O antropologismo de Goethe, que como método puramente científico representa uma deficiência, é, ao contrário, um imenso fator positivo para sua teoria e práxis estéticas: a obra de arte, a atividade estética, as categorias de ambas, aparecem numa poderosa ligação natural, recebem dela o seu conteúdo, de tal modo que, em Goethe, as formas artísticas mantêm o seu caráter especificamente estético e não se tornam jamais formas de conhecimento “impróprias”, nem tampouco assumem uma falsa autonomia com relação ao conteúdo. Por isso, Goethe pode dizer sobre o problema central da estética: “o belo é uma manifestação de leis secretas da natureza, que permaneceriam eternamente ocultas para nós se não aparecessem”.(27) E concretizando, posteriormente, esta afirmação, diz Goethe: “Uma lei que se revela como fenômeno é elevada ao belo”.(28)
Para nossa finalidade, não tem nenhuma importância o modo pelo qual esta unidade de método na estética e na filosofia da natureza tornou-se um obstáculo para Goethe. É importante, tão somente, constatar como o caminho indireto através da filosofia da natureza se tenha feito sentir na estrutura e nos métodos da estética de Goethe. Goethe se expressa de um modo claro e inequívoco sobre esta questão nos Materiais para a História da Teoria das Cores. Relata amplamente como, em suas relações com a pintura, tornou-se-lhe cada vez mais evidente o fato de que na questão do colorido reina uma completa anarquia de opiniões, que ninguém tem condições de dizer algo objetivo sobre os princípios estéticos deste importante campo da arte. Os problemas daí decorrentes levam-no a indagar cientificamente todo o complexo das cores, das relações entre as cores, etc. “Compreendi finalmente que é necessário que nos aproximemos das cores, como fenômenos físicos, inicialmente pelo lado da natureza, se é que se pretende aprender alguma coisa sobre elas enquanto ligadas à arte”.(29) Só a partir disto é que se pode compreender por que Goethe rechaça tão duramente o método de Newton, bem como qualquer aplicação da matemática aos problemas ópticos, e ao mesmo tempo considera as experiências da técnica da tintura como um importante elemento da teoria das cores. E, com igual decisão, afirma que não se trata apenas de um impulso estético, mas antes do fato de que toda a teoria das cores deve desembocar numa fundamentação científica da estética da cor na pintura. “E assim”, diz Goethe,
Sem quase ter percebido, eu mesmo havia chegado em um campo estranho: passei da poesia à arte figurativa, desta à pesquisa da natureza, e o que deveria me servir apenas de auxílio excitava-me agora como um objetivo em si. Mas, já tendo andado bastante por estas regiões estranhas, encontrei o feliz caminho de retorno à arte através das cores fisiológicas e através de seu efeito estético e moral em geral.(30)
Esta tão íntima relação entre o ponto de vista estético e o da filosofia da natureza é característica de toda a obra criativa de Goethe. Neste local, devemos concentrar nossa atenção sobre os momentos que ilustram o problema de que tratamos; mas, ao fazê-lo, imediatamente encontramos — o que é uma prova do lugar central que esta íntima concatenação de estética e filosofia da natureza assume na concepção do mundo de Goethe — um conjunto de problemas que, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do da forma, tanto do ponto de vista filosófico quanto do metodológico, está no centro da sua teoria e da sua prática: o fenômeno originário [Urphaenomen]. Goethe, na Teoria das Cores, dá uma clara definição do que entende por fenômeno originário:
Se o físico pode chegar ao conhecimento do que chamamos um fenômeno originário, ele chegou ao fim, e, com ele, também o filósofo. O físico, porque se convence de ter chegado aos limites da sua ciência, de se encontrar numa altitude empírica de onde pode olhar para trás e contemplar todos os graus de experiência anteriores e, se olhar para frente, tem diante de si o reino da teoria no qual não pode entrar, nem mesmo dar uma mirada. O filósofo, porque, de fato, da mão do físico, toma um último que nele se torna um primeiro.(31)
Se completarmos esta definição com a concretização filosófica que lhe deu Hegel, numa carta pessoal a Goethe, e com a qual este se declarou de acordo, o fenômeno originário se esclarece completamente no que diz respeito aos objetivos específicos de nossa pesquisa. Hegel diz:
Seja-me permitido agora falar a Vossa Excelência também do interesse particular que possui, para nós filósofos, um fenômeno originário obtido de tal modo que possamos empregar — com a permissão de Vossa Excelência — este resultado precisamente a serviço da filosofia! Se nós, no final, elaboramos, contra o ar e a luz, o nosso absoluto antes fechado como uma ostra, cinzento ou inteiramente negro — como quiserdes —, de tal modo a fazê-lo desejoso de ar e de luz, temos necessidade de janelas para expô-lo completamente à luz do dia; nossos fantasmas se desvanecerão se quisermos transferi-los diretamente na sociedade rica e intricada do mundo externo. Aqui, os fenômenos originários de Vossa Excelência servem magnificamente aos nossos propósitos; nesta luz crepuscular, intelectual e compreensível pela sua simplicidade, visível e perceptível pela sua sensibilidade, os dois mundos — o nosso obscuro e a existência aparente — saúdam-se mutuamente.(32)
Pela definição de Goethe, bem como pelo comentário de Hegel, torna-se evidente que o fenômeno originário, como categoria filosófica, cai precisamente no domínio da particularidade. Ambos sublinham a posição intermediária que ele assume entre o universal e o singular, a sua função de ligação, a sua função mediadora entre estes dois extremos. Por certo, como importante característica desta posição de Goethe, salta logo à vista o fato de que o fenômeno originário — não obstante a sua função mediadora — possui uma independência relativa bastante ampla, um determinado estar-colocado-sobre-si-mesmo, o que certamente não tolhe o caráter da particularidade, mas antes o reforça. É uma característica do método goethiano de pesquisa da natureza o fato de que a universalidade, para a qual o fenômeno originário deve servir de mediação, não mais esteja no interior da ciência da natureza, mas pertença já à filosofia; corresponde plenamente à concepção goethiana da pesquisa científica fazer a universalidade desembocar no particular determinado. Hegel, ao contrário, busca e encontra no fenômeno originário uma ajuda material para seu projeto de filosofia da natureza, que deveria elevar todos os problemas das ciências naturais singulares ao nível de uma universalidade simultaneamente científica e filosófica. (Do ponto de vista atual, as duas posições revelam-se, simplesmente, como condicionadas pelo tempo e superadas. É óbvio que nenhuma ciência pode ter a intenção de limitar-se no seu próprio campo a uma particularidade, por mais significativa que seja, mas deve tender a avançar para a universalidade, independentemente do fato de se poder ou não encontrar depois uma universalidade científica superior e mais vasta; com isto, sublinha-se com maior energia do que Goethe a relatividade da particularidade, bem como, com maior energia do que Hegel, a relatividade do absoluto.)
Os mais importantes momentos do processo que faz do fenômeno originário uma categoria cientificamente superada reforçam sua relação com a estética. O próprio Goethe via no fenômeno originário, precisamente, um fundamento prático e teórico da estética, da poética. Nas leis objetivas e imutáveis da natureza, cuja essência ele concebe sempre como inseparável da essência do homem, Goethe vê o que há de comum na natureza e na arte. Nas suas Máximas em Prosa, chega a falar também do fenômeno originário, acrescentando logo: “A verdadeira mediadora é a arte. Falar da arte quer dizer mediatizar a mediadora, e disto entretanto não decorre muita vantagem”.(33) E tampouco é um acaso que Goethe não somente estabeleça cientificamente o que considera como essencial em suas descobertas sobre o fenômeno originário, mas também o plasme poeticamente. Que se recordem poemas como “Metamorfoses da Planta”. Também não é um acaso, mas antes a mais profunda manifestação da metodologia de Goethe, o fato de que este poema ligue indissoluvelmente à representação poética do fenômeno originário botânico a descrição de outro fenômeno originário humano, a comunhão humana dos amantes. Semelhante ligação entre os fenômenos originários da natureza e os mais importantes e típicos destinos humanos pode ser encontrada em toda uma série dos mais importantes poemas e das obras em prosa de Goethe. (Que se pense nas Afinidades Eletivas.) As leis da natureza, que assumem em Goethe estas formas concretamente particulares, são ao mesmo tempo forças decisivas de movimento para a vida humana. “A lei segundo a qual tu começaste...”, diz ele, em seu modo extremamente característico.
Portanto, por mais problemático que seja o método antropologizante para as ciências naturais, é extraordinariamente fecundo para aquela coisa incomparável que é a poesia de Goethe. Talvez não tenha existido nenhum outro poeta para o qual a unidade do conteúdo da vida, do conteúdo das experiências vitais, na ciência e na poesia, tenha sido tão permanentemente a estrela polar. Quando, por exemplo, ele se pronuncia, contra Diderot, pelas leis próprias da arte, negando às manifestações singulares e imediatas da natureza o direito de valerem como critérios para a criação artística, não defende tanto a arte em face da natureza quanto os direitos vitais de uma parte especial de toda a natureza contra a tentativa de equipará-la mecanicamente a outras partes. A este respeito, porém, não se deve esquecer que Goethe vê tal processo da natureza na totalidade universal, levando em menor conta do que Hegel as componentes histórico-sociais, ao passo que nos tratamentos singulares que tendem a determinar um setor concreto da arte ele leva em conta, com muita penetração, estas componentes; que se recorde, por exemplo, a dedução do épico e do dramático a partir do modo de comportamento do rapsodo e do mimo.
Para esclarecer o nosso problema, tivemos de delinear brevemente os princípios fundamentais comuns à filosofia da natureza e à estética de Goethe, a fim de que se tornasse imediatamente evidente porque, e de que modo, ele é o primeiro a ver na particularidade a categoria estrutural da esfera estética. Compreende-se que, dado o modo de trabalhar que lhe é próprio, jamais tenha ele elaborado sistematicamente este pensamento; contudo, as suas formulações centrais fornecem a este respeito um quadro inequivocamente claro da sua concepção. Principiemos com a conhecida contraposição do seu método criador àquele de Schiller:
Existe uma grande diferença no fato de o poeta buscar o particular para o universal ou ver no particular o universal. No primeiro caso, nasce a alegoria, onde o particular só tem valor enquanto exemplo do universal; no segundo, está propriamente a natureza da poesia, isto é, no expressar um particular sem pensar no universal ou sem se referir a ele. Quem concebe este particular de um modo vivo expressa ao mesmo tempo, ou logo em seguida, mesmo sem o perceber, também o universal.(34)
Goethe defende aqui os princípios decisivos da arte bem realizada contra um gênio problemático como Schiller; em outra passagem, encontramos expresso o mesmo pensamento, de um modo absolutamente não polêmico, mas sim como necessária consequência da dialética goethiana:
A qualidade fundamental da unidade viva: separar-se, unificar-se, fundir-se no universal, persistir no particular, transformar-se, especificar-se e — do mesmo modo como o que é vivo pode mostrar- se em mil condições — aparecer e desaparecer, solidificar-se e fundir- se, enrijecer-se e liquefazer-se, ampliar-se e contrair-se. Já que todos estes efeitos ocorrem simultaneamente, no mesmo momento, assim também cada coisa pode ocorrer ao mesmo tempo. Surgir e morrer, criar e anular, nascimento e morte, alegria e dor, tudo se mistura no mesmo sentido e na mesma medida; por isso, mesmo o acontecimento mais particular se apresenta sempre como uma imagem e um símbolo do mais universal.(35)
Tão somente sobre esta base, Goethe pode expressar claramente a relação da particularidade para com a universalidade: “O universal e o particular coincidem; o particular é o universal que aparece em condições diversas”.(36) Ou com formulação um pouco diferente: “O particular é eternamente submetido ao universal; o universal deve eternamente adaptar-se ao particular”.(37)
Ainda que estas afirmações expressem, inequivocamente, os princípios fundamentais da estética de Goethe, é todavia necessário completá-las em outros aspectos a fim de que possamos verdadeiramente atingir o terreno inexplorado da teoria do reflexo estético. A nova concepção do lugar central ocupado pela particularidade no sistema categorial da estética está estreitissimamente ligada, em Goethe, à sua teoria da prioridade subjetivamente. Do ponto de vista da objetividade, Goethe expressou repetidamente a sua opinião. Limito-me a citar apenas esta significativa passagem:
Jamais se repetirá isso suficientemente: o poeta, como artista figurativo, deve se preocupar sobretudo em saber se o assunto de que vai tratar permite-lhe desenvolver uma obra multiforme, completa, suficiente. Se se negligencia isto, todo outro esforço é completamente inútil: o metro e a rima, o peneiramento e a cinzelada são completamente inúteis; e, embora uma execução magistral possa fascinar por alguns momentos o público inteligente, ele sentirá imediatamente a falta de espírito que se manifesta em tudo o que é falso.(38)
Todas as investigações de Goethe sobre a subjetividade da arte, sobre o modo realmente fecundo de refletir esteticamente a realidade (mesmo se este ponto de vista não é expressamente formulado), são determinadas por esta sua concepção.
É sabido o entusiasmo e a emoção com que Goethe reagiu à crítica de Heinroth, que lhe atribuía um “pensamento objetivo”.(39) Goethe completa esta exigência para o próprio sujeito teórico e estético com a da “exata fantasia sensível”;(40) e, em suas argumentações, rechaça qualquer hierarquia idealista e artificiosa entre as chamadas faculdades cognoscitivas superiores e inferiores. Aqui se faz sentir energicamente o materialismo espontâneo de Goethe, em antítese aos seus contemporâneos, seguidores do idealismo filosófico. Estes, inclusive Hegel, retomam acriticamente das tradições idealistas tal hierarquia das faculdades cognoscitivas superiores e inferiores, fazendo-as atuar respectivamente na ciência e na arte; de tal modo a arte é necessariamente incluída em qualquer sistema como sendo um conhecimento imperfeito. (Em Hegel, por exemplo, a arte aparece como esfera da intuição, acentuando-se claramente a superioridade sobre ela da representação e do conceito, esferas da religião e da filosofia.) Para Goethe, ao contrário, na vida, na ciência e na arte o homem inteiro se engaja do mesmo modo, com todas as suas capacidades espirituais, e é o sujeito necessário para a recepção e reprodução da realidade objetiva.
Esta concepção materialista do sujeito está estreitamente ligada à concepção goethiana da prioridade do conteúdo na arte. É muito significativo o fato de que ele, logo após, complete a afirmação que citamos sobre o pensamento objetivo com uma teoria da poesia objetiva. Aqui, Goethe sublinha particularmente três grandes motivos de sua práxis poética. Em primeiro lugar, “certos grandes motivos, lendas, algo que nos foi legado pela história mais antiga”; em segundo, a sua teoria e práxis da poesia de ocasião; em terceiro, o seu esforço constante para dominar poeticamente os problemas da Revolução Francesa. Três complexos que parecem absolutamente heterogêneos. Porém, se os considerarmos mais de perto, evidencia-se aquele traço comum formulado por Goethe, a saber, que em todos estes casos indicam-se grandes complexos de temas poéticos que, por um lado, têm um caráter delimitado até à individualidade sensível, e, por outro, e ao mesmo tempo, abraçam tendências fundamentais e decisivas na vida do poeta e de seu tempo, encarnando as suas determinações mais universais (e que, portanto, utilizando uma formulação lógica, são particularidades). No que diz respeito ao complexo que parece mais subjetivo e mais singular, a poesia de ocasião, Goethe afirma de maneira inequívoca:
Do que eu disse, pode-se explicar a minha tendência para as poesias de ocasião, às quais me impelia irresistivelmente todo particular de uma situação qualquer. Por isso, também em meus Lieder pode-se observar que cada um tem em sua base algo particular, e que dentro de um fruto mais ou menos notável existe sempre um miolo qualquer; por isso também, durante vários anos, não se cantou, e precisamente naqueles anos que tinham um caráter decisivo, já que eles impunham ao executante que este se transferisse de sua concepção genericamente indiferente a uma concepção e a um estado de espírito particulares e estranhos....(41)
É interessante que Goethe, mais adiante, refira-se com desaprovação à maior popularidade das “estrofes de conteúdo nostálgico”, que são produtos poéticos que se desvanecem no genérico e, ao mesmo tempo, no puramente subjetivo, em contraste com a cristalina objetividade e particularidade das suas poesias de ocasião.
Esta posição de Goethe assume uma evidência ainda mais plástica nas considerações que fecham este escrito. Ele fala do princípio da “dedução”, e — outro fato característico — fala dele tanto para o trabalho científico quanto para o trabalho artístico:
Não descanso enquanto não encontro um aspecto importante, do qual se possa deduzir muito, ou antes, que implique muito em si mesmo e me dê muito espontaneamente, já que, no esforçar-me e no receber, procedo com cautela e fidelidade.(42)
Trata-se aqui de algo mais do que uma técnica pessoal de trabalho. Goethe descreve o processo pelo qual o autêntico artista capta o centro estético da representação na obra projetada: o particular que está em condições de agrupar sem esforço, em torno de si, todos os momentos necessários da singularidade e da universalidade que estão contidos no tema, de colocá-los em ligação orgânica consigo mesmo e reciprocamente. O objeto fecundo do qual Goethe sempre fala é, precisamente, mais universal do que a ocasião que provoca imediatamente a produção, do que a experiência singular; não é, todavia, o conteúdo ideal captado em sua universalidade espiritual, mas sim, precisamente, o particular no qual ambos os extremos se unem, e do qual — se concebido com exatidão — podem ser “deduzidos” todos os elementos singulares (detalhes), bem como todos os elementos universais do conteúdo ideal, no sentido de Goethe por nós citado.
Pela crítica epistolar feita por Goethe ao Kranichen des Ibykus de Schiller, pode-se talvez observar do modo mais claro quais são as importantíssimas consequências que podem derivar deste ponto de vista. Goethe parte do simples fato natural de que os grous são pássaros que caminham. “Deduzindo” desta particularidade todas as consequências artísticas, ele dá a Schiller uma direção para a solução de sua composição, na qual tudo o que é obtido artificiosamente (o mero acaso singular no aparecimento dos próprios grous, o caráter abstratamente universal da ligação entre o acaso bruto e a lógica moral) se exclui por si mesmo, e casualidade e necessidade se ligam sem esforço, em justas proporções, no fenômeno natural agora organicamente ligado ao problema moral. Em sua resposta a Goethe, Schiller admite ter negligenciado, por ignorância dos fatos naturais, o uso “que se pode fazer deste fenômeno natural. Buscarei dar a estes grous, que são inclusive os protagonistas do destino, mais espaço e mais importância”.(43) A correspondência Schiller-Goethe mostra muitos exemplos de aplicação deste método, ainda que quase nunca se utilizasse conscientemente o termo “particularidade”. (Não está excluída a possibilidade de que, do ponto de vista terminológico, Hegel — e eventualmente Schelling — tenham influenciado Goethe neste ponto, se bem que ele tenha, sob este aspecto, ido muito além em substância e extraído as consequências estéticas com muito mais energia do que estes filósofos.)
De qualquer modo, no velho Goethe, encontramos já o uso desta categoria de um modo preciso e consequente. A particularidade como forma própria da poesia é o conteúdo de uma carta a Zelter, e Goethe sublinha — a este respeito — o contraste com o singular com a mesma decisão com a qual se referia, no já citado confronto entre a sua produção pessoal e a de Schiller, à justa relação dialeticamente contraditória com o universal. As argumentações contidas na carta a Zelter fazem parte do grande complexo que é sua luta contra a arte e a estética românticas. Goethe escreve:
Por isso é que uma dezena de jovens talentos poéticos me conduz ao desespero: porque eles, não obstante os extraordinários dons pessoais, dificilmente poderão fazer algo que possa me alegrar. Werner, Oehlenschlager, Arnim, Brentano e outros trabalham e escrevem continuamente. Mas tudo é inteiramente privado de forma e de caráter. Nenhum quer compreender que a suprema e única operação da natureza e da arte consiste em dar forma, e que na forma a operação suprema foi e continua a ser a especificação, pela qual tudo se torna algo particular, significativo. Não é arte deixar os talentos pessoais orientarem-se segundos os humores, segundo o arbítrio do indivíduo.(44)
Também num colóquio com Eckermann, a particularidade é sublinhada como o elemento vital da literatura, bem como, ao mesmo tempo, diferenciada nitidamente do que é puramente singular, sendo sublinhada a justa relação com a universalidade: “Sei muito bem”, disse Goethe,
Que é difícil: mas compreender e representar o particular é o específico da arte. E, ademais, enquanto nos limitarmos ao universal, todos podem nos imitar, mas ninguém pode imitar o nosso particular. Por quê? Porque os outros não o viveram. Tampouco se deve temer que o particular não encontre eco nos demais. Todo caráter, por mais específico que seja, todo objeto de representação possível, da pedra ao homem, contém a universalidade; e isto porque tudo se repete, nada havendo no mundo que só tenha existido uma vez.(45)
Riemer conservou, inclusive, uma afirmação de Goethe na qual a refutação da singularidade assume um caráter decisivamente teórico; quem conhece a concepção goethiana da relação entre o indivíduo e a espécie não encontra nada surpreendente nesta rígida formulação, especialmente se se leva em conta o fato de que as individualidades figuradas pela sua poesia de uma maneira esteticamente adequada à sua concepção do mundo representam o particular, o tipo, e não o singular. Afirma-se no livro de Riemer:
Não existem indivíduos. Todos os indivíduos são também espécies, isto é, este ou aquele indivíduo escolhido ao acaso é o representante de toda uma espécie. A natureza não cria um singular único. Ela é um único, ela é una, mas o singular está frequentemente presente em quantidade inumerável.(46)
As muitas formulações das Máximas em Prosa são iluminadas por estas passagens, de modo que perdem o seu aspecto paradoxalmente aforismático e se inserem organicamente na conexão por nós delineada. Assim se diz: “O que é o universal? O caso singular. O que é o particular? Milhões de casos”.(47) Bem como, no que diz respeito à figuração real (símbolo, em antítese com alegoria, tem sempre este significado em Goethe): “Um verdadeiro simbolismo existe quando o particular representa o universal não como sonho ou sombra, mas como revelação vitalmente instantânea do imperscrutável”.(48) Ou ainda, a respeito do processo criador do gênio: “O gênio exerce uma espécie de iniquidade, primeiro no universal, e, depois da experiência, no particular”.(49) Naturalmente, esta concepção poderia ser encontrada em muitas argumentações estéticas de Goethe, mesmo quando ele não emprega esta terminologia. Mas é óbvio, acreditamos, depois de tudo o que foi dito, que Goethe — no famoso artigo “Simples Imitação da Natureza, Maneira, Estilo” — entende por estilo precisamente o particular no sentido por nós utilizado. Precisamente por isto, ele marcou época na teoria da arte: concretizou o processo artístico da generalização, sem porém fixá-lo no equívoco extremo da universalidade, como sempre ocorrera desde Aristóteles até Lessing.
Naturalmente, isto não quer dizer que a estética marxista, ainda que tão somente na elaboração deste problema, seja apenas uma continuação direta da iniciativa goethiana. E não porque Goethe não fornecesse uma elaboração sistemática da categoria da particularidade na estética, mas “apenas” — o que certamente é muitíssimo — indicações esclarecedoras e fundamentais, antes a designação do lugar no qual o problema deve ser colocado e resolvido do que a própria solução; não só por isto, mas também — e sobretudo — por causa dos limites da dialética goethiana, sobre os quais nos referimos. Mutatis mutandis, temos aqui, em certo sentido, uma situação análoga às indicações, dadas por Hegel e igualmente geniais, sobre a função do particular na dialética do conhecimento. Por certo, as diferenças são pelo menos tão importantes quanto as semelhanças. Em primeiro lugar, Goethe é um materialista espontâneo; por isto, nele não está tudo “de cabeça para baixo”. Todavia, é um materialista espontâneo com uma forte inclinação para a dialética. Disto decorre, por um lado, que ele — considerada a linha fundamental da sua atividade estética — jamais perdeu de vista completamente o reflexo da realidade; dado que, todavia, por outro lado, também a sua tendência à dialética é apenas espontânea, ele critica de maneira justa, na maioria dos casos, as doutrinas adialéticas do reflexo, mas cai por vezes em posições inconciliáveis com a teoria do reflexo (basta recordar a sua crítica à estética de Diderot). Em segundo lugar, a sua dialética espontânea – como já dissemos — é limitada no que diz respeito ao momento decisivo do salto, à transformação da quantidade em qualidade. Quando este aspecto do seu pensamento — a “evolução pura”, sem saltos — apresenta-se em sua estética, há necessidade de uma revisão radical. Deve-se certamente observar que este limite da dialética goethiana apresenta-se com muito menor peso na estética do que na metodologia das ciências naturais. Mas surge também na estética: por isto, este rico e fecundo legado de Goethe não pode ser utilizado sem uma reelaboração crítica.
Notas de rodapé:
(1) Platão, A República, X. (retornar ao texto)
(2) Marx, Das Kapital, op. cit, pág. 64. (retornar ao texto)
(3) Ibidem, pág. 65. (retornar ao texto)
(4) Aristóteles, Política, livro I, capítulos 8/9, citado no Kapital, vol. I, op. cit., págs. 159-160. (retornar ao texto)
(5) Aristóteles, Poética, capítulo 9. (retornar ao texto)
(6) Diderot, Obras, ed. Assézat, Paris, 1875 ss., vol. VIII, pág 151. (retornar ao texto)
(7) Ibidem, pág. 151. (retornar ao texto)
(8) Ibidem, pág. 103. (retornar ao texto)
(9) Ibidem, pág. 155. (retornar ao texto)
(10) Lessing, Hamburgische Dramaturgie (Dramaturgia de Hamburgo), parte 86. (retornar ao texto)
(11) Ibidem. (retornar ao texto)
(12) Ibidem, parte 89. (retornar ao texto)
(13) Ibidem. (retornar ao texto)
(14) Ibidem, nota. (retornar ao texto)
(15) Ibidem, parte 92. (retornar ao texto)
(16) Ibidem, parte 94. (retornar ao texto)
(17) Ibidem. (retornar ao texto)
(18) Balzac, prefácio à Comédia Humana. (retornar ao texto)
(19) Lessing, Hamburgische Dramaturgie, parte 95. (retornar ao texto)
(20) Goethe, Zur Naturwissenschaft im Algemeinen: Anschauende Urteilskraft (Sobre a ciência da natureza em geral: juízo intuitivo), Jubiläumausgabe (Edição do Jubileu), Band (vol.) 39, pág. 34. (retornar ao texto)
(21) Goethe, Paralipomena zu den Annalen (Anais), Erste Bekantschaft mit Schiller 1794, ed. cit., vol. 30, págs. 391 ss. (retornar ao texto)
(22) Goethe, Nachträge u Farbenlehre (Adenda à teoria das cores), Sophienausgabe, 2. Abtlg., 5.1, págs. 403-404. (retornar ao texto)
(23) Goethe a Zelter, 22 de junho de 1802. (retornar ao texto)
(24) Marx-Engels, Die heilige Familie (A Sagrada Família), in: Die heilige Familie und andere philosophische Fnihschriften (A Sagrada Família e outros escritos filosóficos juvenis), Dietz Verlag, Berlim, 1953, pág. 258. (retornar ao texto)
(25) Goethe, Maximen und Reflexionen (Máximas e Reflexões), ed. Do jubileu, vol. 39, pág. 58. (retornar ao texto)
(26) Ibidem, pág. 78. (retornar ao texto)
(27) Goethe, ed. op. cit., vol. 35, pág. 305. (retornar ao texto)
(28) Ibidem, pág. 325. (retornar ao texto)
(29) Goethe, Materialen zur Geschichte der Farbenlehre, Konfession des Verfassers (Materiais para a história da teoria das cores, confissão do autor), ed. op. cit., vol. 40, pág. 309. (retornar ao texto)
(30) Ibidem, pág. 320. (retornar ao texto)
(31) Goethe, Entwurf einer Farbenlehre, Didaktischer Teil (Introdução a uma teoria das cores, parte didática), ed. op. cit., vol. 40, pág. 78. (retornar ao texto)
(32) Publicado em Nachträge zur Farbenlehre, Neueste aufmuntende Teilnahme (Adenda à teoria das cores, recentes acolhidas encorajadoras), Sophienausgabe, 2. Abtlg., vol. 5.1, pág. 374. (retornar ao texto)
(33) Goethe, Maximen und Reflexionen, ed. do jubileu, vol. 35, pág. 303. (retornar ao texto)
(34) Goethe, ed. op. cit., vol. 38, pág. 261. (retornar ao texto)
(35) Goethe, ed. op. cit., vol. 39, pág. 71. (retornar ao texto)
(36) Ibidem. (retornar ao texto)
(37) Goethe, ed. op. cit., vol. 4, pág. 209. (retornar ao texto)
(38) Goethe, Naturphilosophie (Filosofia da natureza), ed. op. cit., vol. 38, pág. 117. (retornar ao texto)
(39) Goethe, Bedeutende Fördenis durch ein einziges geistreiches Wort, ed. op. cit., vol. 39, págs. 48 ss. (retornar ao texto)
(40) Goethe, Über Stiedenroths Psychologie, ed. op. cit., vol. 39, pág. 374. (retornar ao texto)
(41) Goethe, Bedeutende Fördenis, etc., ed. op. cit., vol. 39, pág. 50. (retornar ao texto)
(42) Ibidem, págs. 51 ss. (retornar ao texto)
(43) Goethe a Schiller, 22/23 de agosto de 1797, e Schiller a Goethe, 30 de agosto de 1797. (retornar ao texto)
(44) Goethe a Zelter, 30 de outubro de 1808. (retornar ao texto)
(45) Eckermann, Gespräche mit Goethe (Conversações com G.), 29 de outubro de 1823. (retornar ao texto)
(46) Riemer, Mitteilungen über Goethe (Relatos sobre G.), Leipzig, 1921, pág. 261. (retornar ao texto)
(47) Goethe, ed. op. cit., vol. 39, pág. 69. (retornar ao texto)
(48) Goethe, ed. op. cit., vol. 38, pág. 266. (retornar ao texto)
(49) Goethe, ed. op. cit., vol. 4, pág. 241. (retornar ao texto)