MIA> Biblioteca> Paul Sweezy > Novidades
Primeira Edição: Este texto de Paul Sweezy foi publicado na revista socialista independente Monthly Review, editada nos E.U.A. e da qual Paul Sweezy é Director. A 1.ª Parte saiu no n° de Setembro de 1975 e a 2.ª Parte no n.° de Outubro de 1975.
Tradução: Francisco Agarez
Fonte: Alternativas Socialistas — A Luta de Classes, número especial. Editora Arcádia.
Transcrição: Graham Seaman
HTML: Fernando Araújo.
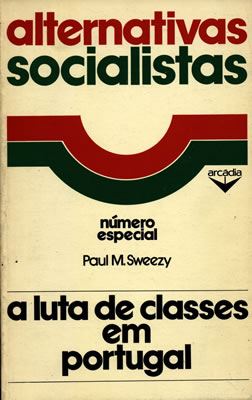
A minha tendência inicial foi para escrever sobre a “Revolução Portuguesa” mas, pensando melhor, concluí que a escolha deste título talvez fosse mais enganadora do que orientadora. É certo, por um lado, que o que está hoje a acontecer em Portugal é um processo revolucionário. A antiga estrutura do poder foi derrubada, e o modelo estabelecido de relações sociais foi triturado pela agitação. O que começou por ser um golpe militar no centro e no topo, em 25 de Abril de 1974, propagou-se para fora e para baixo, até envolver toda a ordem social Portuguesa.
E no entanto, por outro lado, continua de pé a questão de saber se irá ou não haver uma revolução em Portugal. Por exemplo, centenas de fábricas e outras empresas — ninguém sabe ao certo o número — foram ocupadas pelos trabalhadores. Os administradores foram sequestrados ou expulsos. O problema de quem é o dono de quê, quem tem direito a indeminização se a houver, que forma tomará a gestão em fábricas nacionalizadas e/ou ocupadas, não só não foi resolvido como, nas circunstâncias actuais, nem sequer está a ser seriamente encarado. O problema dominante agora é a localização e o exercício do poder político, e se este não for resolvido, ou enquanto não for resolvido, não é provável que mais nada se resolva. Entretanto, nada de irreversível aconteceu. Perante este estado de coisas, parece evidente que o que é preciso colocar no centro do foco analítico é a luta de classes, implacável e ubíqua, que caracteriza a cena portuguesa, e cujo resultado determinará se haverá ou não uma verdadeira revolução em Portugal.
As lutas de classes em Portugal, como em todos os outros países, têm características e dialéctica próprias, historicamente condicionadas e em muitos aspectos únicas. Por isso devemos começar por dar um breve sumário de uma certa informação essencial de base(1).
A imagem de Portugal como um país atrasado e subdesenvolvido, que penso estar espalhada pelos Estados Unidos e outros países capitalistas avançados, e que estava firmemente implantada no meu próprio espírito antes de eu lá ter ido, é basicamente enganosa. Pelos padrões dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, Portugal está de facto atrasado, e não há dúvida nenhuma de que a maioria da sua população é pobre. Mas, a uma escala global, é um país que pertence ao domínio do capitalismo desenvolvido, não só por ter tido, até recentemente, um vasto império colonial mas, principalmente, pela sua estrutura socio-económica. E este facto confere-lhe, na cena política do mundo actual, uma importância que está fora de qualquer proporção com a sua área ou população. A acontecer uma revolução em Portugal, não seria mais uma revolução do Terceiro Mundo, mas a primeira de um país capitalista metropolitano. E esse seria sem dúvida um acontecimento de consequências e implicações muito profundas.
“Portugal” — no dizer do Programa do M.E.S. — “é um país onde as relações capitalistas de produção dominam de maneira quase absoluta”.
Quatro quintos da população activa são trabalhadores. assalariados. Um pouco mais de metade da população activa é proletária no sentido estrito de operários de produção em fábricas, lojas e propriedades agrícolas; e outros 25 a 30 por cento são trabalhadores de escritório e serviços. A indústria está fortemente concentrada nas duas grandes cidades de Lisboa e Porto. A maior parte do proletariado agrícola, que representa cerca de um quarto do total do proletariado, está nas regiões do Ribatejo e Alentejo(2), ou seja, nas partes central e sul do país. A parte norte do país é predominantemente uma região de propriedade rural pequena, de semi-subsistência, de exploração familiar. E muito pobre, atrasada e dominada pela religião.
No outro extremo da estrutura de classes está — ou pelo menos esteve até há pouco — a burguesia financeiro/monopolista, organizada num punhado de grupos tipos Zaibatsu (C.U.F., Quina, Espírito Santo, Champalimaud) que controlavam as maiores indústrias, a banca, os seguros, as comunicações, etc. Estes grupos monopolistas foram criados “em estufa” pela ditadura de Salazar, adquiriram vastos interesses nas colónias portuguesas de África e estabeleceram uma completa teia de negócios e ligações com as burguesias imperialistas da Europa e da América. De facto, a maior parte desses grupos está já desmembrada e dispersa, os seus holdings nacionalizados e as suas principais figuras estão na prisão ou no exílio.
Há dois aspectos desta reviravolta que merecem especial atenção. Primeiro, o programa anti- monopolista que no início era a orientação política fundamental do Movimento das Forças Armadas (M.F.A.), bem como do Partido Comunista e de alguns grupos mais pequenos de Esquerda (mas não do Partido Socialista, que sempre deu prioridade absoluta ao estabelecimento de instituições de democracia burguesa), perdeu a sua raison d'être(3) O que tomou ou está a tomar o seu lugar, especialmente no caso do M.F.A., é o que adiante se discutirá. A segunda consequência é que a burguesia monopolista está ansiosa não só por recuperar os seus domínios, mas também por se vingar em quem tão rudemente perturbou o seu confortável universozinho. Graças à sua vasta riqueza, parte da qual já estava no estrangeiro e para lá continuou a ser enviada (legal e ilegalmente) durante o ano passado, e às suas ligações internacionais, é evidente que este estrato superior da classe capitalista portuguesa, embora em número reduzido, é uma potência uma força contra-revolucionária extremamente perigosa.
Entre a multidão dos trabalhadores assalariados, por um lado, e a burguesia monopolista, por outro, há um cortejo de classes características dos países capitalistas em idêntico estádio de desenvolvimento, e que representam qualquer coisa como 20 por cento da população activa e incluem estratos urbanos e rurais.
Na cidade há:
No campo, há:
Em suma, a estrutura de classes em Portugal é a de um país capitalista metropolitano num estádio algo inferior de desenvolvimento em relação aos países mais avançados da Europa e à América do Norte(5). E, como inúmeras experiências históricas nos ensinam, uma tal sociedade caracteriza-se por lutas de classes contínuas e por vezes severas, se bem que normalmente controláveis. O que faz de Portugal um caso muito especial é que durante quase todo o período em que esta estrutura de classes tomava corpo (ou seja, de 1926 em diante), as lutas de classes desencadeadas não só foram contidas como brutalmente reprimidas pelo regime fascista mais prolongado de que há memória. Além de que, ao serem reprimidas, a sua dureza e severidade aumentavam. Por exemplo, a contenção dos salários a níveis baixos era uma parcela calculada da estratégia da ditadura salazarista, que exigia não só a proibição de sindicatos livres e a repressão das greves mas também uma política deliberada de manutenção dos baixos preços da alimentação, o que, por sua vez, fazia definhar o sector agrícola e era em boa parte responsável pelo depauperamento e despovoamento de áreas agrícolas potencialmente produtivas. Simultaneamente, os privilégios tão generosamente concedidos à burguesia monopolista faziam subir os preços de muitos artigos de consumo popular e agravava a desigual distribuição de rendimentos, normal em sociedades capitalistas. Entre as medidas mais ostensivas neste aspecto contou-se a proibição, sob pena de severas punições, da produção em Portugal de tabaco, algodão e beterraba açucareira, com o fim de reservar o mercado desses produtos para as fazendas e plantações que os monopolistas tinham nas colónias — isto apesar do facto de o solo e o clima de Portugal serem bons para tais culturas.
Perante este cenário, facilmente se compreenderá porque é que, quando a mão de ferro da repressão fascista foi neutralizada com o golpe de 25 de Abril, foi o pandemónio. Os operários fizeram centenas de greves por aumento de salários, sequestraram os patrões até que estes satisfizessem as suas reivindicações, ocuparam fábricas e escritórios, exigiram depurações nos sectores público e privado (saneamento é uma das palavras que se vêem e ouvem com maior frequência em Portugal, actualmente). Tornaram-se quase diárias as manifestações de apoio às lutas dos trabalhadores ou de protesto contra a inacção ou oposição oficial, envolvendo muitas vezes pessoas de diversas camadas da população urbana. Oradores de esquina, rodeados de magotes de indivíduos em excitado debate, viam-se pela noite dentro. Camponeses que não tinham terras ocuparam grandes propriedades ou apoderaram-se de terras incultas. Os aldeãos ocuparam casas desabitadas, de proprietários ou capitalistas ausentes, para escolas e creches ou para habitação de desalojados. No outro extremo do leque social, a burguesia — suportando consideráveis prejuízos, ameaçada por outros muito maiores e profundamente assustada — começava a reunir forças dentro e fora do país, e a conspirar para o seu regresso ao poder. E entretanto, dezenas, centenas e milhares de “zés-ninguéns”, mantidos numa atroz ignorância e alimentados por uma dieta permanente de lúgubre propaganda anticomunista por meio século de dominação fascista, depressa deram todos os indícios de estarem prontos para servir de tropa de choque da reacção e da contra-revolução.
Este levantamento da fervura na panela política foi naturalmente acompanhado de fortes tensões e perturbações económicas. As velhas estruturas de autoridade caíram sem que fossem substituídas por outras novas; a produtividade e a produção decaíram; o desemprego aumentou e a inflação continuou a um dos níveis mais altos da Europa. No seu comunicado de 21 de Junho de 1975, o Movimento das Forças Armadas descrevia nos seguintes termos o estado económico da nação:
"A actual situação económica do país caracteriza-se pelos seguintes três pontos críticos fundamentais:
Desnecessário se torna salientar que uma situação como esta — nos seus aspectos políticos e económicos — é extremamente instável e não pode deixar de provocar toda uma série de crises de gravidade provavelmente crescente. Mas o que não se pode prever é qual será o resultado — a que novos arranjos políticos e económicos se vai chegar, e por que via. Podemos quanto muito procurar analisar as principais forças e tendências de acção e tentar descobrir algumas saídas possíveis. Com tal exercício não se pretende especular por especular, mas fazer uma leitura tão clara quanto possível de uma situação que é de enorme importância internacional e histórica, e que sem dúvida exige a tomada e defesa de posições por parte de todas as pessoas politicamente conscientes, dentro e fora de Portugal.
O Movimento das Forças Armadas. O M.F.A. é um fenómeno exclusivamente português. Organizou e executou o golpe de 25 de Abril, desempenhou um papel fundamental nos acontecimentos desde então ocorridos e quase de certeza continuará a desempenhá-lo no futuro. Importa compreendê-lo em termos das suas origens e evolução, e qualquer tentação para tratá-lo como uma mera variedade de intervenção militar na política deve esbarrar com a mais resoluta resistência. Caso contrário, demonstra-se uma total incompreensão do processo revolucionário português.
O M.F.A. teve as suas raízes nas lutas de libertação das colónias portuguesas de África (Guine-Bissau, Moçambique e Angola). Nos seus esforços para manter o domínio sobre essas colónias, a ditadura portuguesa, a partir dos começos dos anos 1960, empenhou recursos humanos e materiais, enormes em relação à população e à riqueza do país, em contínuas campanhas contra as insurreições coloniais. No início da década de 70 era cada vez mais evidente que este esforço estava condenado ao fracasso. No entanto, o M.F.A. não começou como movimento contra a guerra: a sua relação inicial com as, guerras africanas foi mais indirecta. Tal como acontecera com as guerras coloniais da França nos anos de 1950, o esforço de guerra de Portugal em África esgotou o seu corpo de oficiais e obrigou ao recurso a medidas extraordinárias para colmatar as faltas. Isto criou descontentamento no seio dos oficiais subalternos que tinham sofrido os males do sistema anterior e se sentiram marginalizados em favor dos recém-chegados. O M.F.A. começou por ser uma espécie de associação profissional destes oficiais para obterem a satisfação das suas reivindicações. Mas, desde que começaram a reunir-se, depressa se aperceberam de que tinham muitos outros problemas para discutir, incluindo evidentemente as desesperadas guerras de África, nas quais muitos dos jovens oficiais tinham passado a maior parte das suas carreiras militares. Foi destas discussões que nasceu o plano para derrubar a ditadura. O General Spínola, cujo livro anterior ao golpe, Portugal e o Futuro, atraiu as atenções mundiais, preconizando uma solução política (embora neo-colonialista) para as guerras de África, foi informado da conspiração e aceitou o convite do M.F.A. para encabeçar o primeiro Governo Provisório, mas não esteve directamente envolvido no golpe. Spínola e outros que ele chamou para o Governo esperavam e tencionavam conquistar o controle incontestado da situação para depois usarem o seu poder na remodelação de Portugal em Estado europeu capitalista modernizado.
Mas o M.F.A, tinha outras ideias. O seu programa inicial era populista, antimonopolista e anti-colonialista — vago em muitos pontos fulcrais, mas claramente incompatível com a ideologia e as ambições dos spinolistas(6). Desde logo se tornou inevitável um choque entre estas duas forças, choque esse que não tardou a verificar-se. Em Julho de 1974, quando a luta da classe operária se intensificava na frente económica, Spínola e o seu primeiro-ministro conservador, Palma Carlos, tentaram arquitectar aquilo a que Robin Blackburn muito bem chamou um putsch presidencialista — um plebiscito no prazo de três meses destinado a fazer de Spínola uma espécie de versão portuguesa de De Gaulle. Mas esta iniciativa inesperada foi esmagadoramente rejeitada pelo Conselho de Estado. Palma Carlos foi obrigado a demitir-se e foi substituído no cargo de primeiro-ministro pelo General Vasco Gonçalves, que se dizia ser de longa data simpatizante dó Partido Comunista. O seu gabinete, reconstituído, passou a incluir quatro ministros do M.F.A..
Assim nasceu o segundo Governo Provisório, mas a sua duração foi ainda menor que a do seu predecessor. Spínola depressa retomou as suas manobras, e os reaccionários ligados ao antigo regime cresciam de ousadia, A 10 de Setembro apelou para que a “maioria silenciosa” se afirmasse, e uma grande manifestação de apoio a Spínola foi anunciada para 28 de Setembro. Desta vez, as organizações da classe operária, suspeitando de que estava iminente uma tentativa de golpe, e aparentemente conduzidos por vários grupos da extrema-esquerda, assumiram a iniciativa na noite de 27 de Setembro, erguendo barricadas em todas as estradas de acesso a Lisboa. Spínola, na sua qualidade de comandante chefe das Forças Armadas, tentou utilizar tropas do Comando Operacional do Continente (COPCON) para desfazer as barricadas e garantir a realização da manifestação conforme previsto(7). Mas verificou que as tropas só acatavam ordens do comandante do COPCON, General Otelo Saraiva de Carvalho que, ainda major, dirigira o golpe contra Caetano em 25 de Abril. Em vez disso, o COPCON recebeu ordens para reforçar os operários nas barricadas; a manifestação foi proibida e dezenas de conspiradores foram presos. Assim se desmoronou a base do poder de Spínola. Dois dias depois, em 30 de Setembro, resignou e foi substituído no cargo de presidente pelo seu velho amigo e camarada General Francisco da Costa Gomes; chegava o terceiro Governo Provisório.
A história do terceiro Governo Provisório foi em muitos aspectos idêntica à dos anteriores. Em todos, a luta no seio do Governo era essencialmente um reflexo da luta de classes que se desenvolvia na sociedade em geral, com a classe operária em manifesto crescendo de militância e de força organizativa e a burguesia esforçando-se por reconquistar o domínio da situação. O M.F.A. mais uma vez procurou temporizar, em grande parte, sem dúvida, porque as divisões no seu próprio seio o impediam de formular e pôr em prática uma estratégia que favorecesse abertamente uma ou outra das duas forças de classe dominantes. E uma vez mais lhes forçou a mão uma tentativa de golpe de Direita, desta vez em 11 de Março de 1975.
Militarmente, o golpe de 11 de março foi facilmente dominado. Politicamente teve consequências de longo alcance. Spínola e alguns dos seus comparsas fugiram do país; outros foram presos. Mas mais importante ainda foi a explosão da actividade da classe operária. Imediatamente após o 11 de Março verificou-se um grande número de ocupações de fábricas, que obrigaram o Governo a ampliar grandemente o âmbito do seu programa de nacionalizações. Foi nessa altura que ficou traçado o destino dos conglomerados monopolísticos, embora o maior deles todos, a Companhia União Fabril (C.U.F.), só fosse tomado vários meses depois. O 11 de Março também acelerou a formação de comissões apartidárias de trabalhadores e de moradores, processo que se tinha iniciado meses antes sob a orientação de alguns grupos de extrema-esquerda.
O M.F.A. reagiu à nova situação por várias formas. Por um lado, formalizou a sua própria estrutura. A autoridade máxima foi cometida a uma assembleia geral de 240 membros (120 do Exército, 60 da Armada e 60 da Força Aérea), constituída por oficiais, sargentos e praças. Constituiu-se também um Conselho Superior da Revolução, com 30 oficiais, que na prática passou a ser o órgão governativo do país. Por outro lado, e mais importante, o M.F.A. decidiu que não podia correr o risco de consentir que as eleições, marcadas para 25 de Abril, aniversário do golpe inicial, se tornassem na base de uma nova estrutura de poder centrada nos partidos políticos. Para isso preparou, através do Conselho da Revolução, uma “Plataforma de Acordo Constitucional com os Partidos Políticos”, que estes foram verdadeiramente obrigados a assinar como condição para participar nas eleições. A essência do acordo era simplesmente que o M.F.A. manteria o poder por um período de transição de três a cinco anos e que a assembleia eleita em 25 de Abril teria por única função elaborar a Constituição para vigorar no período de transição — e que, além disso, teria que “consagrar os princípios do Programa do Movimento das Forças Armadas, as legítimas conquistas alcançadas ao longo do processo (revolucionário), bem como os desenvolvimentos do programa impostos pela dinâmica revolucionária que aberta e irreversivelmente conduz o país para uma via original de socialismo Português”. Dir-se-ia que pouco fica para a Assembleia Constituinte decidir.
Está fora de dúvida que o M.F.A. gostaria de ter pura e simplesmente esquecido as eleições, mas estava acorrentado a elas como resultado de uma promessa feita no ano anterior, numa altura em que dificilmente alguém, incluindo o M.F.A., poderia antever que o derrube da ditadura iria precipitar um profundo processo revolucionário. Quanto a mim, constituiu uma prova da crescente maturidade do M.F.A. como força revolucionária séria o facto de, quando tal processo se desenvolveu, não ter querido consentir que ele fosse cerceado e, muito provavelmente, rudemente contrariado por aquilo a que talvez se pudesse chamar um golpe eleitoral. O M.F.A. deve ter pensado que a Plataforma de Acordo Constitucional era a melhor maneira de evitar tal golpe sem violar a promessa de realizar eleições; e talvez tenha sido esta a solução política mais prudente nas circunstâncias que se verificaram após a derrota do golpe de 11 de março. Mas não há dúvida que foi elevado o preço a pagar. O facto de cerca de dois terços dos votos terem sido arrecadados por dois partidos requintadamente burgueses, mascarados de “socialistas” e “sociais-democratas” fornecem preciosas munições aos inimigos da Revolução Portuguesa, dentro e fora do país(8). Vistas as coisas à distância, poder-se-á especular que talvez tivesse sido preferível adiar as eleições sine die ou, como houve quem sugerisse na altura, apresentar candidatos do M.F.A. apartidários, que por certo teriam recebido muitos votos que acabaram por ir para os Partidos Socialistas e Popular Democrático e poderiam até ter conseguido a maioria. Vale a pena citar a opinião do General Carvalho sobre este ponto:
“O M.F.A. teve um impacto espantoso a nível de massas. Se tivéssemos participado nas eleições, tínhamos ganho. A verdade é que os partidos não têm grande implantação e lutam entre si a ponto de ameaçarem a unidade da base. É evidente que temos de combater a grande burguesia que suporta a linha política do P.P.D.. A luta entre os partidos é talvez uma distracção que nos coloca numa situação difícil. Mas isto não significa que estejamos a pensar em assumir o encargo de mobilizar as massas, ainda que o M.F.A. pudesse fazê-lo. O M.F.A. precisa dos partidos e os partidos, evidentemente, precisam do M.F.A. se quisermos alcançar o socialismo”.
Voltaremos ao papel actual dos partidos: aqui limitamo-nos a assinalar que uma política mais astuta por parte do M.F.A. poderia ter diluído ou pura e simplesmente obviado ao filão de propaganda que as eleições ofereceram grátis aos inimigos do M.F.A. Quase se torna desnecessário acrescentar que, noutros aspectos, o significado das eleições foi mínimo. Não tiveram qualquer efeito sobre a luta de classes subjacente, e a Assembleia Constituinte que delas resultou é um acontecimento secundário e insípido.
O sumário que apresentámos do primeiro ano do M.F.A. no poder indica claramente um processo de radicalização e crescente empenhamento na revolução. Mas é importante que se compreenda que não se tratou, de maneira nenhuma, de um processo autónomo gerado no seio do M.F.A. mas antes de um processo gerado pela luta de classes que se tratava à margem dos centros de poder, e que a reflecte. Apesar de ter geralmente relutância em tomar partido nessa luta, o M.F.A. foi incapaz de evitar o envolvimento nas três confrontações decisivas que marcaram este primeiro ano. Em todas elas deu o seu apoio à classe operária e ao fazê-lo manteve viva a revolução e empurrou-se a si próprio para a Esquerda. Resta saber se esta dialéctica se irá repetir; talvez mesmo ao ponto de se tornar uma das formas de desenvolvimento características (e, refira-se, historicamente únicas) da Revolução Portuguesa. Nesta altura, tudo quanto podemos dizer é que é muito possível.
Falta-me o espaço e a necessária documentação para traçar este movimento do M.F.A. para a Esquerda desde o 25 de Abril de 1974, mas quero chamar a atenção para uma declaração de política que constitui um marco, e que foi proferida pelo Conselho da Revolução em 21 de Junho, após quase uma semana de reunião permanente. Trata-se de um documento que é preciso ler na íntegra, até porque é impossível fazer dele um resumo coerente. As notas que se seguem destinam-se a ajudar a perspectivá-lo historicamente.
Como já ficou dito, o programa inicial do M.F.A. era antimonopolista e anticolonialista mas não, de certeza, anticapitalista. Não sei bem quando começou a tomar uma orientação pró-socialista — talvez algum tempo depois de Spínola ter sido afastado, em Setembro. Mas, em Abril, a Plataforma de Acordo Constitucional com os Partidos Políticos refere o país a caminho de “um Socialismo Português”, o que soa mais a uma das muitas e bem conhecidas demagogias (“Socialismo Árabe”, “Socialismo Africano”, etc.) do que a um compromisso político sério. Mas já no comunicado de 21 de Junho as coisas são mais claras. O ponto 1.1 define o M.F.A. como um movimento de libertação nacional que tem por objectivo essencial a independência nacional e que reconhece só poder alcançar esse objectivo através da construção de uma sociedade socialista. O ponto 1.2 identifica uma sociedade socialista como “o objectivo final a ser alcançado” e define-a como “uma sociedade sem classes, obtida pela colectivização dos meios de produção, em que sejam eliminadas todas as formas de exploração do homem pelo homem, e na qual serão garantidas a todos os indivíduos iguais oportunidades de educação, trabalho e promoção sem distinção de origem, sexo, crença religiosa ou ideologia”. A isto acrescenta:
“A via de transição da sociedade actual para uma sociedade socialista passa necessariamente pelas várias fases, a primeira das quais é determinada pelo período de transição fixado na Plataforma de Acordo Constitucional, e cujas etapas serão determinadas pela evolução política e socio-económica do povo português”.
De um ponto de vista marxista, estas afirmações são susceptíveis de sérias críticas. Uma sociedade sem classes é comunista, não socialista. O socialismo é precisamente uma sociedade de transição que se afasta do capitalismo a caminho do comunismo(9). Mas a transição não começa com uma declaração como a Plataforma de Acordo Constitucional, mas antes com o acesso da classe operária ao poder político. Apesar destas debilidades, porém, a concepção de socialismo a que o M.F.A. agora chegou é perfeitamente coerente com uma orientação genuinamente revolucionária, e é susceptível de ser modificada e aprofundada sem ser negada. Enfim, não é uma peça de ofuscação ideológica como muitos dos “socialismos” que se propalam no Mundo de hoje. Além disso, a afirmação inadequada de que a independência nacional só se alcança pela construção de uma sociedade socialista é mais verdadeira, e não menos, quando o socialismo é entendido no seu pleno sentido marxista.
Mas imediatamente depois de estabelecer a sua definição de socialismo, o M.F.A. cai numa contradição, que provavelmente reflecte um misto de desunião no seu seio, ingenuidade política e o receio de chocar os liberais e os democratas burgueses do país e do estrangeiro. “No entanto — dizem-nos — o M.F.A. já decidiu que esta via (para o socialismo) será pluralista". E o “pluralismo” é assim definido no ponto 1.3:
“Pluralismo significa a livre expressão e discussão das opiniões, e bem assim as experiências de construção da nova sociedade, em diálogo aberto e permanente com todo o povo português.
O pluralismo socialista compreende a coexistência, na teoria e na prática, de várias formas e concepções da construção da sociedade socialista. Ao mesmo tempo o M.F.A. rejeita a implantação do socialismo por métodos violentos e ditatoriais.
O pluralismo partidário, tal como se encontra estabelecido na Plataforma de Acordo Constitucional, implica o reconhecimento da existência de vários partidos políticos e correntes de opinião, mesmo que não defendam necessariamente opções socialistas. Ao mesmo tempo, admite uma oposição, cuja crítica pode ser benéfica e construtiva, desde que as suas acções não se oponham à construção da sociedade socialista por meios democráticos.
Como declaração de intenções, isto é uma coisa; como declaração de princípios vinculativos, o que parece ser o que se pretende, é algo de muito diferente — e perigoso. Num tempo como o que se vive actualmente em Portugal, em que os inimigos do socialismo — que são numerosos e potencialmente muito poderosos — estão na defensiva, não vão apresentar-se como tal. Vão declarar-se pelas “opções socialistas”; vão jurar que o que eles propõem é uma “oposição benéfica e construtiva”; e não vão deixar uma única pedra por remexer na sua determinação de desviar a revolução para um beco capitalista. No momento em que escrevo, pouco mais de um mês após a publicação do comunicado de 21 de Junho, quando o Partido Socialista e o Partido Popular Democrático abandonaram o Governo de Coligação (o quarto Governo Provisório, que datava de 25 de Março) e a violência “anticomunista” alastra pelas áreas reaccionárias do Norte, tal facto é cada vez mais evidente para toda a gente, incluindo o próprio M.F.A. que procura, por tentativas, encontrar uma forma de enfrentar o desafio, como antes enfrentou desafios da Direita. Mas que dose de socialismo, tal como definido no comunicado, sobreviverá a este assalto da luta de classes, é o que resta ver. A lição a aprender, o mais depressa possível, é que não se pode estar empenhado ao mesmo tempo no socialismo e numa via específica para alcançar o socialismo. Como a rica experiência histórica tem demonstrado, e mais recentemente no Chile, os inimigos do socialismo não respeitam regras. Ora se os socialistas, mesmo assim, insistem em estabelecer um conjunto de leis às quais se proponham aderir, mais cedo ou mais tarde se acharão perante um dilema tormentoso: ou faltam à palavra ou aceitam a derrota.
Há outro ponto do comunicado para o qual pretendo chamar a especial atenção, pela sua importância para o futuro do M.F.A. Na 2.ª Parte (“Exercício da Autoridade”) são identificados dois perigos para a revolução: primeiro, as actividades contra-revolucionárias dos agentes do capitalismo e do colonialismo; e, segundo, “certas manifestações de esquerdismo pseudo-revolucionário que, ainda que por vezes bem-intencionadas, tendem a criar situações anarquizantes, profundamente perturbadoras de um processo revolucionário coerente, resultando objectivamente num reforço ao jogo declarado daqueles que dizem ou pretendem combater”. Os primeiros, segundo o comunicado, serão severamente reprimidos. E, acrescenta, “quanto à luta contra o esquerdismo, deverá desenvolver-se essencialmente no campo ideológico, possibilitando a recuperação de elementos bem-intencionados para os objectivos e tarefas da revolução(10). Aqui se pode descortinar, pelo menos em embrião, um reconhecimento da distinção extremamente importante entre duas espécies de contradições: por um lado, contradições entre o povo e os seus inimigos e, por outro lado, contradições entre o povo. Sob a orientação de Mao Tse-Tung, este reconhecimento tornou-se uma das pedras angulares da teoria e da prática do Partido Comunista Chinês. Em contrapartida, é completamente estranha aos partidos comunistas orientados de Moscovo, que invariavelmente tratam os seus rivais da Esquerda como se eles fossem de facto “agentes do capitalismo e do colonialismo” e assim procuram lançar as bases para os destruírem na primeira oportunidade. O Partido Comunista Português não é neste aspecto nenhuma excepção — longe disso.
A evolução das Forças Armadas. Até aqui temos vindo a referir-nos ao M.F.A., que começou com um punhado de oficiais e mesmo agora, com a inclusão de representantes dos sargentos e praças, só abrange uma pequena parte do total dos efectivos das Forças Armadas. Mas seria perigosamente incompleta qualquer análise da situação portuguesa que não tomasse em conta a massa de soldados rasos. Pará nos convencermos disso, bastará recordar alguns factos de base sobre a estrutura militar que se desenvolveu durante perto de década e meia de guerras coloniais. Kenneth Maxwell dá-nos a seguinte descrição concisa:
“Numa população de pouco mais de oito milhões de habitantes, um em cada quatro homens em idade militar está nas Forças Armadas. Só o exército tinha pelo menos 170.000 homens em 1974, dos quais 135.000 em África. A Força Aérea tinha 16.000 homens, a Armada 18.000, a Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) 10.000 e a Polícia de Segurança Pública (P.S.P.) 15000. As Forças Armadas representavam (numa estimativa por baixo) uma permilagem da população (30,83) só superada por Israel (40,09) e Vietname do Norte e do Sul (31,66), (55,36); cinco vezes a da Grã-Bretanha, três vezes a dos Estados Unidos ou da Espanha. O orçamento militar representava 7 por cento do P.N.B., mais do que o dos Estados Unidos. E mesmo isso era uma percentagem provavelmente baseada em números estimados por defeito. Com um rendimento per capita de pouco mais de mil dólares, Portugal gastava em despesas militares um mínimo per capita de $63,27. Entretanto, os oficiais tinham ordenados elevados, enquanto o pré dos soldados era simbólico ou inexistente. Os soldados rasos eram e continuam a ser, na sua maioria, ignorantes, mal treinados e nem sempre muito disciplinados”. (Artigo citado em rodapé da pág. 2).
Perante estes factos, seria bastante absurdo supor que um levantamento da envergadura daquele que varreu Portugal após o golpe de 25 de Abril só iria afectar a escassa minoria de oficiais e homens que pertencem ao M.F.A. e ser afectado por ela.
Quanto aos homens não pertencentes ao M.F.A. várias pessoas a quem interroguei disseram-me que a maioria dos reaccionários e potencialmente contra-revolucionários tinham sido saneados ou passados à reserva e que a maioria dos que continuaram no activo alinharia com o M.F.A. O mal deste diagnóstico é que ignora o facto de o próprio M.F.A. ser tudo menos uma força monolítica. Quando a luta de classes aquece, como neste momento está nitidamente a acontecer, penetra profundamente no M.F.A., causando divisões e conflitos, gerando crises e obrigando a alterações de chefia e direcção política. Até agora, como já vimos, estas crises no âmbito do M.F.A. resolveram-se favoravelmente à tendência mais radical. Mas não há qualquer garantia de que sempre assim aconteça. Infelizmente, não tenho qualquer informação sobre a orientação política dos oficiais não-M.F.A., mas acho razoável supor que eles são em geral menos politizados e mais conservadores que os do M.F.A.. Se esta suposição é correcta, não é difícil imaginar uma situação em que a ala menos radical do M.F.A. procurasse fazer uma aliança táctica com os oficiais de fora do M.F.A. numa tentativa de inclinar a balança a seu favor. E o que alguns jornais de Lisboa dos últimos dias (7-10 de Agosto) sugerem que estará a acontecer precisamente neste momento. Seja como for, as ambiguidades da situação, acrescidas da quase certeza de que estão para vir crises novas e provavelmente mais severas, fazem com que seja muito importante tentar compreender o que aconteceu com os sargentos e praças, que constituem, evidentemente, a vasta maioria das Forças Armadas. Com efeito, se a luta de classes penetrou profundamente no corpo de oficiais, cujos membros são na sua maioria de origem burguesa ou pequeno-burguesa, não era muito natural que deixasse incólumes os soldados rasos que são na sua esmagadora maioria originários das classes trabalhadoras urbanas e rurais.
Prosseguindo o tratamento deste tema, vou referir-me ao que observei e me foi dito durante uma visita ao quartel do Regimento de Infantaria n.° 1, na periferia de Lisboa. Ali se localizou o posto de comando do golpe de 25 de Abril e também noutros aspectos é uma unidade excepcional, não uma unidade típica. Cerca de 700 soldados vivem no quartel ou a ele estão adidos. A maioria dos sargentos e praças recebem instrução em mecânica e têm formação operária. Os oficiais são na sua maioria licenciados em engenharia por universidades civis, politicamente conscientes e receptivos. Terminadas as guerras de África, muito equipamento regressou a Portugal, e muitas das reparações necessárias foram feitas nas oficinas do Regimento. Desde o princípio do novo regime que os soldados pretenderam desempenhar um papel político, mas enquanto Spínola esteve no poder eles foram impedidos de o fazer pelos regulamentos e proibições usuais em todos os exércitos burgueses. Em Julho de 1974 foi iniciada uma luta pelas liberdades elementares (discutir, realizar reuniões, etc.) que deparou com repressão. Mais tarde, em 28 de Setembro, os soldados saíram para as barricadas com os operários. A derrota de uma tentativa de golpe abriu caminho à acção política e cultural por parte dos soldados. Registaram-se rápidos progressos em duas frentes: na interna pela democratização da vida nos quartéis, e na externa pelo estabelecimento de assembleias regionais a nacionais do M.F.A. Em 10 de Dezembro atingiu-se um ponto de viragem com o estabelecimento e a formalização de uma assembleia do regimento. Segundo o meu guia, um sargento politicamente activo, o estatuto desta assembleia passou a ser um modelo para unidades de todo o país. Eu não interpretei isso no sentido de que todas as outras unidades copiassem literalmente o estatuto adoptado pelo Regimento de Engenharia n.° 1, mas antes no sentido de que as outras unidades foram incentivadas à tomada de acções semelhantes usando o modelo do Regimento de Engenharia como exemplo a ser adaptado às suas necessidades específicas. Mas mesmo que seja só para ilustrar, de maneira geral, o tipo e âmbito da democracia interna que se generalizou às unidades das Forças Armadas de Portugal, durante o Inverno e a Primavera de 1974-1975,
O modelo deste Regimento parece-me um documento suficientemente importante para merecer ser aqui transcrito na íntegra. A tradução é de um folheto policopiado distribuído pela Comissão de Informação e Acção Cultural.
I — Constituição da Assembleia
Art.° 1. A Assembleia da Unidade é constituída por representantes dos oficiais, sargentos e praças do Regimento.
Art.° 2. São membros da Assembleia por inerência de funções o primeiro e segundo comandantes da Unidade, o representante da Assembleia do M.F.A. e o director de instrução.
Art.° 3. Os restantes membros da Assembleia da Unidade são escolhidos por eleição entre todos os elementos da classe a que pertencem. O mandato é por três meses, renovável por um período que não exceda os dose meses no total.
Art.° 4. O número de representantes de cada(1*) classe é em princípio o seguinte:
Art.° 5. A Assembleia deverá eleger membros suplentes em número igual ao dos membros efectivos.
II — Poderes da Assembleia
Art.° 6. A Assembleia terá funções consultivas,
formativas e informativas, constituindo o órgão em que confiarão o comando da Unidade e os representantes das assembleias regionais e nacional para melhor compreenderem os problemas e necessidades da generalidade dos militares.
Art.° 7. A Assembleia discutirá todos os assuntos de interesse para a Unidade e promoverá, através dos seus membros e através de comissões ou grupos especialmente nomeados, a mais ampla discussão destes mesmos problemas.
Art.° 8. Através de uma Comissão de Informação e Acção Cultural constituída por membros seus, a Assembleia promoverá debates, encontros, colóquios, cursos, etc., destinados a manter todo o pessoal militar da unidade bem informado e a melhorar a sua formação. Ao mesmo tempo dedicará particular atenção à elaboração e distribuição de informação escrita através de jornais de parede, folhetos informativos e um jornal da Unidade.
Art.° 9. A Assembleia discutirá e decidirá das medidas a propor ao comandante da Unidade para garantir a progressiva melhoria das condições de vida do pessoal militar, com particular atenção à classe de soldados.
Art.° 10. A Assembleia discutirá os planos de instrução a adoptar na Unidade e em particular aqueles que dizem respeito à formação socio-política de todo o pessoal militar que serão necessariamente incluídos em todos os futuros esquemas de instrução.
Art.° 11. Em geral, a Assembleia discutirá os problemas disciplinares da Unidade com vista a uma aplicação mais humana da justiça na interpretação das leis em vigor, incluindo um maior rigor e oportunidade na atribuição de louvores.
Art.° 12. Competirá à própria Assembleia decidir em caso de omissão deste conjunto de regras respeitantes à definição dos limites precisos das suas atribuições.
III — Funcionamento da Assembleia
Art.° 13. A Assembleia reunirá em sessões semanais regulares em dia a ser definido pela própria Assembleia.
Art.° 14. Em caso de necessidade, e a pedido de pelo menos metade dos seus membros efectivos ou do comandante da Unidade, poderá a Assembleia reunir extraordinariamente, pelo menos 24 horas a contar da data da convocação.
Art.° 15. A Assembleia será presidida por uma mesa composta pelo primeiro e segundo comandantes e o director de instrução; e o representante da assembleia nacional, que servirá de secretário, sendo o comandante o presidente ou, na sua ausência, o segundo comandante.
Art.° 16. Os componentes da mesa não têm direito de voto.
Art.° 17. Das convocatórias das reuniões regulares ou extraordinária constará uma agenda que incluirá obrigatoriamente a leitura da acta da reunião anterior.
Art.° 18. As decisões da Assembleia serão sempre confirmadas por voto aberto, considerando-se aprovadas as propostas que obtenham maioria simples.
Art.° 19. Em casos especiais definidos pela própria Assembleia, a votação pode ser por escrutínio secreto e por maioria absoluta ou de dois terços.
Art.° 20. A Assembleia pode dissolver-se por sua própria decisão, sendo condição necessária uma votação por escrutínio secreto e dois terços do número total possível de votos.
Proposta aprovada pela Assembleia de Unidade de 10 de Dezembro de 1974
Exteriormente, este documento não parece de facto particularmente radical. E no entanto, se se pensar nos extremos a que chegam os exércitos burgueses para evitar que os soldados sejam expostos às ideias radicais e às experiências democráticas, concluir-se-á que essa aparência é enganadora. No Chile, mesmo no Governo de Unidade Popular, o trabalho político nas Forças Armadas foi rigorosamente proibido, o que constituiu sem dúvida uma razão importante para a Junta que derrubou o Governo em Setembro de 1973 poder contar com o exército como força repressiva e antipopular. Mostraram-me a sala onde a Comissão de Informação e Acção Cultural expunha e distribuía ou vendia literatura. Os partidos portugueses de Esquerda estavam bem representados, o mesmo acontecendo com os clássicos marxistas e as obras revolucionárias contemporâneas de autores portugueses e estrangeiros (incluindo livros de Monthly Review Press traduzidos para português e publicados no Brasil). E não só a literatura de Esquerda era acessível; eram-no também as instalações e a liberdade de organizar grupos de discussão e promover a formação política. Não sei até que ponto está generalizada nas Forças Armadas, por todo o país, esta situação, mas de qualquer maneira parece não ter havido determinações ou directrizes formais do M.F.A. ou dos chefes dos vários serviços no sentido de ser proibido o trabalho cultural e de formação entre os soldados. O meu guia não só se mostrava orgulhoso do que se tinha feito no seu regimento, mas também convencido da importância nacional de iniciativas idênticas noutros locais. Em reforço do seu ponto de vista, e a título de comparação, ele relatou-me a história de uma visita feita ao regimento por um grupo da Lotta Continua, a organização socialista revolucionária italiana. Esses camaradas, disse ele, ficaram entusiasmadíssimos ao verem o que os seus comparsas portugueses conseguiram fazer na sua acção junto dos militares. Os Italianos teriam dado sei lá o quê por idênticas oportunidades no seu país, onde os soldados também são na sua maioria pobres e ignorantes (e submetidos a constantes lavagens ao cérebro pelas várias formas da propaganda burguesa). Mas é evidente que qualquer coisa desse tipo está completamente fora de questão na “democrática” Itália.
Para reforçar a demonstração do que está a acontecer no seio das Forças Armadas, valerá a pena transcrever os seguintes passos da entrevista com o General Carvalho, que já foi aqui citada.
P. Para começar, que alterações tiveram lugar no seio das Forças Armadas nos últimos meses (isto é, antes do princípio de Maio)?
R. Depois do 25 de Abril, nós pretendemos desde logo levar a revolução ao seio das Forças Armadas, para que ela fosse sentida a todos os níveis e em todos os sectores. Inicialmente, e até 28 de Setembro, tentámos desenvolver a consciencialização política em todas as Unidades, o que foi bloqueado pelo Chefe do Estado-Maior, na altura o General Silvério Marques. Foi difícil fazer quaisquer progressos. A partir do 28 de Setembro as coisas clarificaram-se e desde então nós temos vindo a instaurar um tipo de organização realmente democrático dentro das Forças Armadas. Foram estabelecidos vários tipos de assembleia.
Depois de 11 de Março houve mais alterações. Tudo se tornava mais claro, e o processo — que avança por etapas — assumiu contornos mais nítidos, pelo que estruturámos uma nova Assembleia Geral do M.F.A., que inclui praças, sargentos e oficiais. Portanto, os soldados têm agora plenos direitos de representação no órgão máximo do M.F.A., e isso é muito importante, porque lhes permite, a nível regional e nas diferentes secções, tomar parte activa no processo de renovação. Houve recentemente um plenário, o primeiro de marinheiros, que terminou com a presença de cerca de três mil praças da Armada. Eles convocaram-no e para ele convidaram vários membros do Conselho da Revolução, entre os quais Pinheiro de Azevedo, Chefe do Estado-Maior da Armada. Foi uma reunião espantosa. Um exemplo perfeito de como se está a implantar fortemente a organização democrática. Para nós, democracia no seio das Forças Armadas significa que os militares de todos os níveis participem na revolução. Toda a gente deverá exprimir os seus pontos de vista. Os plenários e assembleias são os meios pelos quais a revolução chega a toda a parte. Nada deverá ser escondido, temos que ser capazes de discutir tudo abertamente. Como é evidente, há dificuldades.
P. Qual é a relação entre o reforço da democracia nos quartéis e os laços dos militares com o mundo exterior, com a luta que se trava no país?
R. Esses laços só agora começaram a consolidar-se. A questão fundamental é a consciência política. É certo que ela amadurece extraordinariamente depressa durante este ano, mas não podemos esquecer que até 25 de Abril nós vivemos sob um regime opressivo. Os soldados não podiam falar de política, e a política não entrava nos quartéis; estava tudo sob controle. Após a libertação, como eu disse, os progressos foram enormes. Brotaram das nossas experiências. Os partidos políticos, confiados na despolitização das Forças Armadas, pensaram que podiam operar um rápido domínio dos militares. O Partido Comunista Português (P.C.P.) foi o primeiro a penetrar nos quartéis, seguido dos socialistas, depois a extrema-esquerda, todos a tentar intrometer-se. Presentemente, é a extrema-esquerda que tem a maior influência, especialmente entre os soldados, mas a maioria — mais do que os que apoiaram os partidos — continua fiel aos ideais do M.F.A. O M.F.A. não é um partido e eu penso que ele devia continuar a ser uma organização política autónoma, evidentemente pendendo para a Esquerda, mas suprapartidária. Sem a sua própria ideologia pré-fabricada, mas capaz de aglutinar as Forças Armadas.
P. O último boletim do M.F.A. critica fortemente o modelo da democracia burguesa, falando concretamente na necessidade de construir o “poder popular”. Em que medida é que os militares podem apoiar o avanço das organizações de massa e ajudar o controle proletário a assumir todos os sectores da sociedade?
R. O que eu gostaria de ver, o que para mim constitui o principal objectivo das Forças Armadas, é a transformação das forças regulares num exército popular. Acho que isso seria possível em certas condições.
A partir dos finais da década de 50, as nossas Forças Armadas começaram a passar por um! processo de proletarização. Até então, os oficiais eram exclusivamente oriundos das classes dominantes, que escolhiam para os seus filhos uma carreira militar. Depois, em parte como resultado da expansão da escolaridade, começaram também a entrar para as Forças Armadas jovens das classes mais baixas. Por isso os oficiais puderam tomar parte numa revolução que iria beneficiar as classes trabalhadoras. O “golpe” tem tido uma coloração de Esquerda porque até agora conseguimos libertar-nos de um grande número de oficiais superiores comprometidos com o antigo regime. Os reaccionários, os aristocratas, aqueles que não aceitaram a nova democracia, foram postos de parte, pelo que, nas condições actuais, as Forças Armadas tomaram uma clara orientação no sentido do povo.
Desde há algum tempo que vimos encarando a possibilidade de termos um sistema uniforme de recrutamento. Assim, em vez da promoção automática de indivíduos com formação universitária, gostaríamos de, através de um recrutamento geral, seleccionar os homens aptos para o comando, independentemente da sua origem de classe, por forma a dar-se aos trabalhadores a oportunidade de serem oficiais enquanto os licenciados em Direito seriam soldados. Seria um passo claro na direcção de um exército popular, embora mantendo, até ver, a estrutura regular.
P. Que liberdade de organização têm os soldados?
R. A disciplina tem que ser mantida de algum modo, e a hierarquia também tem uma função a cumprir, porque nada de positivo se alcança sem um mínimo de ordem e de método. Nos quartéis, a todos os níveis, há toda a espécie de passos no sentido da igualdade e da abolição de privilégios. A alimentação já é igual para toda a gente, e há planos para montar messes únicas para soldados e oficiais, mas talvez os próprios soldados prefiram conservar a sua autonomia, o que não é mau.
P. Que pensa dos “concelhos revolucionários”, da ideia de criar organizações de base que reúnam operários, soldados e oficiais progressistas?
R. Não discordo da criação de conselhos revolucionários. A verdade é que até lhes sou muito favorável. É uma experiência, entre outras, que demonstra que alguns sectores da população estão prontos para uma revolução total. Organizam-se, apresentam ideias novas, avançam; isto não pode deixar de ser muito positivo.
No entanto, penso que os conselhos revolucionários não correspondem à situação actual. Ainda não estão criadas as condições, porque teriam que ser transformadas por um poderoso movimento de massas. Deste ponto de vista, eles não são de facto suficientemente fortes.
No que respeita aos soldados e oficiais, penso que este tipo de experiência orgânica poderia permitir-lhes uma melhor ligação com os operários e consequentemente clarificar as suas ideias e perspectivas. Mas isso não basta para dispensar a. necessidade de organização interna. Dentro das Unidades é bom que os soldados e oficiais se organizem, tomem decisões, critiquem e reordenem a vida nos quartéis.
E claro que seria altamente desejável ter provas muito mais concretas do que se passa nas Unidades militares ao longo do país, mas mesmo com base no que ficou exposto parece justificado concluir que um importante processo de consciencialização e politização se está a operar nas Forças Armadas Portuguesas. Mas ainda não é possível saber até onde se chegou e aonde é que o processo conduz. Se partirmos do princípio, como Carvalho, que a maioria (provavelmente ele refere-se a oficiais e soldados) “se mantém fiel aos ideias do M.F.A.”, isso não ajuda muito, numa altura em que se sabe que o M.F.A. está claramente dividido e ninguém sabe qual das tendências sairá vencedora. Poderíamos mesmo especular que as ideias que estão a tomar-se dominantes no M.F.A. serão fortemente influenciadas pela politização em curso das praças. As revoluções (e contra-revoluções) são enormemente complicadas e só quem for imprudente ou louco se aventurará a prever o seu curso. Mas são também períodos em que as transformações que normalmente levariam anos podem operar-se em meses ou mesmo semanas. A única coisa que se pode dizer com razoável segurança, e que não é menos importante por ser essencialmente negativa, é que em cada dia que passa diminui a probabilidade de as Forças Armadas Portuguesas desempenharem um papel idêntico ao das Forças Armadas Chilenas.
Na última Revista do Mês(11) procurei dar a informação de base necessária para uma compreensão do que se está a passar em Portugal, cerca de dezassete meses após o golpe das Forças Armadas que derrubou o regime fascista instaurado por Salazar em 1926. A estrutura sócio-económica e de classes do país, a natureza do Movimento das Forças Armadas (M.F.A.) que operou o golpe, o desenvolvimento de um processo revolucionário de corpo inteiro que envolveu todas as classes da sociedade, a forma que esse processo tomou no período que vai de Abril de 1974 ao Verão de 1975, e o início da democratização das Forças Armadas em geral — foram os temas aflorados. Nesta segunda e última parte comentarei sumariamente os partidos políticos que, com o M.F.A., são os principais actores da cena política portuguesa, tentando depois tirar algumas conclusões, poucas e provisórias, sobre aquilo que é, sem dúvida, mesmo para quem nela está directamente implicado, uma situação altamente confusa.
A avaliar pela força eleitoral, os principais partidos políticos em Portugal são os seguintes (entre parêntesis as percentagens respectivas de votos obtidos nas eleições de Abril passado para a Assembleia Constituinte): Partido Socialista (38%), Partido Popular Democrático (26%), Partido Comunista (12%), e Movimento Democrático Português (6%). Este último é descendente de uma organização de frente comunista formada para participar nas eleições controladas que houve em 1968, após a substituição de Salazar por Caetano, e para todos os efeitos se pode considerar uma ramificação do P.C. Em termos eleitorais, portanto, há três pólos de atracção, que vão da Esquerda à Direita: P.C., o P.S. e o P.P.D.(2*)
Destes, o de mais longa história e mais profundas raízes é sem dúvida o P.C. Fundado, como a maioria dos Partidos Comunistas do Mundo, nos anos imediatamente após a Revolução Russa, desenvolveu actividade clandestina desde o início da ditadura fascista e tornou-se, de longe, o principal instigador e organizador das lutas da classe operária durante todo o período Salazar-Caetano. Tendo em vista as condições da clandestinidade num país pequeno como Portugal, o P.C. era, como não podia deixar de ser, um partido de quadros, mais do que de massas; os seus dirigentes alternavam normalmente entre a prisão e o auxílio em Moscovo; as suas ideias e o seu estilo eram, por natureza, fortemente estalinistas; e nunca teve a oportunidade ou a tentação de alinhar por aquilo a que se pode chamar a via “reformista nacional” dos Partidos Comunistas Francês e Italiano. Apesar destas características, ou talvez por causa delas, o Partido Comunista Português lançou efectivas raízes na classe operária e estava em muito melhor posição do que qualquer outro dos movimentos políticos para entrar em acção quando finalmente rebentou a corrente de ferro do fascismo.
O Partido Socialista, pelo contrário, limitou-se durante a ditadura a uma existência apagada, e parece ter sido quase sempre um one man show do seu líder, Mário Soares. Para Kenneth Maxwell, o principal livro político de Soares (Portugal Amordaçado) é um catálogo de amizades flutuantes, conhecimentos, atribulações menores, e escaramuças com a polícia secreta... A sua disputa mais espectacular com Salazar foi provocada pelo facto de ele ser advogado da família do General Delgado no caso ainda misterioso do seu assassinato. Foi deportado para São Tomé. Soares fora também advogado de membros da família Melo (preponderante na burguesia monopolística), e Jorge de Melo interveio em ajuda do deportado propondo que Soares representasse uma importante subsidiária da C.U.F. (a maior empresa industrial de Portugal) naquelas ilhas. Só a oposição pessoal de Salazar impediu que Soares ocupasse o cargo.
Sobre o partido de Soares, escreve Maxwell:
“O Partido Socialista Português (P.S.) teve origem na Acção Socialista Portuguesa fundada em Genebra em 1964 e transformou-se formalmente em partido em Bad Munstereiffel, Alemanha Ocidental, em Abril de 1973. E membro da Internacional Socialista. Soares é um convicto “europeísta”, com íntimas relações com os sociais-democratas europeus. Willy Brandt, François Mitterand, Roy Hayward e Jim Callagham, do Partido Trabalhista Britânico, visitaram todos Lisboa (depois do golpe) “para ajudar”. Os dirigentes sociais-democratas da Europa também mandaram fundos substanciais para o P.S. — tentando contrabalançar os milhões de dólares que os partidos comunistas da Europa de Leste e Oeste mandavam para o P.C.P. (New York Review of Books, 17 de Abril de 1975, pág. 33.)
Importa acrescentar que o que constituía pelo menos parte da ala esquerda do P.S. se separou deste e formou a Frente Socialista Popular (F.S.P.), já há algum tempo, havendo notícias de novas deserções nos últimos meses. Ninguém, com um conhecimento mínimo da história das organizações socialistas e operárias da Europa, acreditaria por um minuto sequer que um partido com as características do Partido Socialista Português tivesse alguma simpatia por uma revolução realmente socialista, ou pudesse ser outra coisa que não contra-revolucionário no contexto de uma feroz luta de classes como a que se desencadeou em Portugal durante o último ano e meio(12).
O P.P.D. é uma construção ainda mais débil do que o P.S. Foi fundado depois do golpe e, segundo Kenneth Maxwell, recebeu do General Spínola todo o peso do seu prestígio como Chefe de Estado. Maxwell prossegue descrevendo o P.P.D. como sendo “formado a partir das hostes dos re-reformadores do antigo regime e membros da S.E.D.E.S. (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social), esta última um grupo fundado em 1970, abrangendo um vasto leque de tendências políticas, empenhado em transformações pacíficas e na liberalização(13)fasa. (Ibid., pág. 32.)
Na atmosfera que reinava em Portugal depois da queda da ditadura, o P.P.D. achou oportuno propagandear-se como “socialista”, embora na prática se transformasse no abrigo político de muitos membros dos partidos da Direita que o M.F.A. excluíra do processo eleitoral. Apesar dos rótulos de “moderado” e “centrista” atribuídos ao P.P.D. pela imprensa burguesa, ele é de facto, hoje o partido de Direita legal e oficialmente reconhecido.
Isto não significa, evidentemente, que a reacção portuguesa esteja solidamente unida por detrás do P.P.D., nem tão-pouco que toda a Esquerda seja representada pelos Partidos Comunistas e Socialistas. Em ambos os extremos do leque político há organizações e tendências que, por opção ou não, estão fora da arena eleitoral — e cuja importância aumenta, em vez de diminuir, à medida que se intensifica a luta de classes.
À Direita há a Igreja Católica e diversas outras organizações aparentemente não-políticas(13), e bem assim organizações fascistas mais ou menos clandestinas apoiadas por portugueses no exílio, C.I.A., N.A.T.O., etc. Entre estes, e obviamente com ambições a assumir a sua unificação e liderança, está o Movimento Democrático de Libertação de Portugal, de Spínola. (Gostaríamos de perguntar ao general porque é que excluiu do título do seu movimento o termo “socialista”: um fascismo socialista democrático é só um pouco menos plausível do que o fascismo nacional socialista de Hitler, e é flagrante que hoje em Portugal ninguém tem a patente do rótulo socialista). Que esta extrema- direita tem uma considerável base de massas, pelo menos no Norte, prova-o a extensão e a intensidade da violência popular “anticomunista” dos meses de Verão, em cujo desencadeamento e direcção ela quase de certeza desempenhou um papel fundamental. E o facto de o M.F.A. não ter conseguido ou querido agir eficazmente contra estas vergonhosas explosões de violência, não obstante as repetidas promessas de pôr cobro às alterações da lei ou da ordem, fosse qual fosse a sua origem, levanta sérias interrogações quanto ao papel que a extrema-direita poderá desempenhar no período crítico que sem dúvida está para vir. Mas as respostas a tais interrogações, como é evidente, não dependem só da extrema-direita e do M.F.A., mas também da extrema-esquerda e das Forças Armadas em geral.
Ao começar a referir-me à extrema-esquerda, deverei começar por fazer uma "prevenção: Não disponho de qualquer informação especial. Apenas tive oportunidade de dialogar a fundo com alguns camaradas de uma organização — O M.E.S. — Movimento da Esquerda Socialista; e quanto ao resto tenho que me cingir a impressões muito gerais e a uma estimativa, que pode estar errada, das potencialidades e exigências de uma situação muito complicada. Se mesmo assim eu arrisco algumas notas e opiniões, é porque a maioria dos leitores ainda sabe menos do que eu sobre este assunto, e aqueles que sabem mais quase de certeza estão pessoalmente envolvidos a ponto de lhes ser extremamente difícil separar as aspirações das realidades.
O primeiro aspecto a referir é o número e variedade de organizações e partidos de extrema-esquerda. Um “Glossário” apresentado no folheto da Big Flame, atrás citada, faz uma listagem de nada menos de dez dessas organizações (por ordem alfabética).
A.O.C. — Associação Operária e Camponesa. Organização marxista-leninista com forte implantação em alguns sindicatos. Ganhou as eleições para a direcção do Sindicato dos Trabalhadores Químicos contra o P.C.P., que apelida de “social-fascista”.
F.S.P. — Frente Socialista Popular, chefiada por Manuel Serra, resulta de uma cisão à esquerda do P.S.
L.C.I. — Liga Comunista Internacionalista, organização simpatizante da IV Internacional Trotskista.
L.U.A.R. — Liga de Unidade e Acção Revolucionária, uma das mais antigas organizações de Esquerda, que antes de Abril de 1974 esteve envolvida na luta armada. Continua armada. Um dos principais instigadores da acção militar contra as tentativas de golpe, e das ocupações da casas e terras.
M.E.S. — Movimento de Esquerda Socialista. Com forte implantação em alguns sectores da classe operária, a sua política é a da extrema-esquerda do Partido Trabalhista ou do P.S.U. francês ou talvez do P.D.U.P. de Itália.
M.R.P.P. — Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado. Fundado em 1970 para com- bater o revisionismo do P.C.P.... E dogmático ao caracterizar o P.C.P. como social-fascista, e apoia o P.S. na oposição a ele.
P.R.P.-B.R. — O Partido Revolucionário do Proletariado nasceu das Brigadas Revolucionárias que, em 9 de Abril de 1974, acrescentaram mais um êxito a uma campanha de três anos de sabotagem e luta armada, ao afundar um navio em vésperas de partir para a Guiné-Bissau. O P.R.P. teve intervenção fundamental na criação dos conselhos revolucionários de trabalhadores.
P.U.P. — Partido de Unidade Popular, marxista-leninista.
U.D.P. — União Democrática Popular, marxista-leninista.
U.R.M.L. — União Revolucionária Marxista-Leninista.
É claro que a maior parte dos países capitalistas (se não todos) tem um naipe algo semelhante de partidos e grupos à Esquerda dos comunistas e sociais-democratas, mas daí não se deverá concluir que a situação política da Esquerda em Portugal seja basicamente a mesma que por exemplo em Itália ou França. O que distingue o caso português é que, enquanto um certo número dessas organizações são aquilo a que os Franceses chamam grupúsculos, isto é, pequenas facções com pouca influência e nenhum poder, outras são factores a ter verdadeiramente em conta no equilíbrio político geral. Os seus militantes e simpatizantes encontram-se predominantemente na classe operária, entre os intelectuais e as praças das Forças Armadas. A cobertura que a imprensa faz deste aspecto da situação em Portugal é evidentemente muito diminuta e pouco fiel, mas encontram-se referências e episódios reveladores, e uma observação imediata fornece provas constantes da presença e importância da extrema-esquerda no processo revolucionário.
Como exemplo destas últimas posso citar uma visita que fiz às oficinas da T.A.P., companhia aérea nacional portuguesa, que, com mais de 6 000 trabalhadores, é uma das maiores empresas do país. Os trabalhadores da T.A.P. têm uma história de luta que vem de muito antes do derrube da ditadura e lhes ganhou a reputação de constituírem um dos contingentes de vanguarda do proletariado português. Visitei por acaso a T.A.P. em 12 de Junho, dia seguinte às eleições gerais de empresa para uma comissão de trabalhadores constituída por dez trabalhadores manuais e nove trabalhadores de escritório. Destes 19 representantes eleitos, cinco eram do Movimento de Esquerda Socialista (M.E.S.), quatro do Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (M.R.P.P.), que é geralmente descrito como “maoísta,(14) e os restantes dez ou eram independentes ou (à data) de filiação partidária incerta. Mas os meus informadores garantiram que nenhum dos dez era do Partido Comunista. Vim a verificar que se tratava de uma situação que não era de forma nenhuma invulgar.
Para se ter uma perspectiva correcta desta situação e ao mesmo tempo compreender que ela não contradiz necessariamente as histórias que surgem na imprensa sobre o facto de a central sindical única, cujo título oficial é Intersindical, ser controlada pelo P.C., e de muitos sindicatos nacionais, regionais ou locais serem campos de batalha entre comunistas e socialistas, devemos lembrar que no tempo da ditadura a única espécie de sindicatos que existia era do tipo das organizações fascistas, que evidentemente não representavam os trabalhadores. Os comunistas tinham (e muito bem) trabalhado nesses sindicatos oficiais durante muitos anos, tentando fazer propaganda entre os trabalhadores e conquistar pontos, por poucos que fossem, para esses trabalhadores. Com a queda da ditadura, os comunistas ficaram assim na posição mais favorável para assumir o controle das organizações, numa actuação em que depressa foram imitados pelos socialistas, na sua tentativa de se implantarem entre a classe operária. Mas entretanto os operários, ao nível das fábricas, sentiram uma necessidade imperativa de se organizarem nos seus locais de trabalho, em grande parte e em muitos casos por razões que pouco têm a ver com as funções vulgares dos sindicatos, de negociação de salários e condições de trabalho, luta pela satisfação de reivindicações, etc. Como eu já disse, centenas de empresas foram ocupadas pelos respectivos trabalhadores, que assim se viam obrigados a assumir as funções de direcção; noutros casos desenvolveram-se acções para sanear fascistas da administração ou da direcção, ou para obrigar os patrões a reorganizar os processos e rotinas de trabalho. Por todas estas (e outras) razões precisavam de formas de organização muito diferentes da dos sindicatos, e a solução mais frequente foi a eleição de Comissões de Trabalhadores por assembleias de empregados, em reunião geral ou por divisões ou departamentos(15). A este nível, os comunistas não tinham quaisquer vantagens especiais, e muito menos os socialistas: o que de facto acontecia era o contrário, uma vez que esses partidos pretendiam impor a sua influência sobre a classe operária pela via dos sindicatos, o que os levava a considerar as Comissões de Trabalhadores rivais a derrubar. Nestas circunstâncias, o campo estava relativamente aberto para os grupos de extrema-esquerda, que se introduziram e aproveitaram a maior parte das excelentes oportunidades que lhes proporcionou o desenvolvimento de um autêntico processo revolucionário. Como é frequente acontecer na história, os comunistas foram de certo modo vítimas das suas próprias experiências e êxitos anteriores, ao passo que as organizações de extrema-esquerda, mais jovens e menos experientes, surgiram a assumir novas responsabilidades e a preencher novas necessidades.
Foi também a extrema-esquerda quem forneceu a iniciativa e a organização de conselhos de representantes de várias empresas numa dada área, mais os representantes de grupos de moradores e de aquartelamentos militares que existissem nas imediações. Este tipo de organização foi também incentivado pelo M.F.A. que assim esperava instituir a aliança Povo-M.F.A., proclamada em cartazes afixados por todo o país, e libertar-se duma dependência muito próxima em relação aos partidos políticos. Era mais uma ameaça às estruturas burocráticas do P.C. (que o P.S. se esforçava por emular), que deu origem a estranhas formas de contra-ata- que. Estava eu em Portugal quando o P.C. lançou um movimento destinado a formar novos Comités para a Defesa da Revolução segundo o modelo cubano, esquecendo que — e o M.E.S. rapidamente chamou a atenção para isso — não se defende uma revolução que não houve.
Não posso avaliar o êxito que o movimento dos conselhos (na história revolucionária, como é evidente, conselho não é mais do que a tradução ocidental do soviete russo) alcançou quando eu lá estive, nem tenho maneira de saber que progressos terá feito desde então. Direi apenas que é sem dúvida um movimento sério que, em certas circunstâncias, era susceptível de se aprofundar e expandir a ponto de se tornar o modelo de organização dominante no processo revolucionário português.
Entretanto, a posição e o papel do Partido Comunista têm vindo a sofrer certas alterações, que ainda não estão clarificadas em toda a sua extensão e significado. A princípio, o P.C. pareceu julgar que, graças à sua experiência e à sua superior força de organização, se poderia tornar no braço político do M.F.A. Agindo nessa suposição, rapidamente se infiltrou e apoderou de posições-chaves a todos os níveis do aparelho de Estado, nos sindicatos e nos meios de comunicação de massa. Em relação às massas, a sua atitude foi arrogante e burocrática. Apoiou medidas governamentais impopulares, chegando a furar greves e a opor-se a aumentos “excessivos” do salário mínimo. Acusou de aventureiros e pseudo-revolucionários, etc., todos os grupos à sua esquerda. Quando estive em Portugal, o P.C. promovia uma “batalha da produção” bastante ridícula, em que se incitavam os trabalhadores a que trabalhassem mais, a que trabalhassem voluntariamente nos dias de folga, etc., numa altura em que o desemprego aumentava e todos os operários sabiam que os stocks de produtos por vender se acumulavam. Acima de tudo, como já referi, o P.C. desprezou a necessidade urgente de novas formas de organização de massas nas fábricas, escritórios e bairros, assim abrindo caminho à infiltração da extrema-esquerda, que deste modo se implantou firmemente na classe operária. Em resultado de todos estes actos de comissão e omissão, o P.C. arranjou muitos inimigos e isolou-se de largos sectores das próprias massas que ele procurava liderar. Durante os meses de Verão tornou-se claro até onde tinha ido tal processo, quando a extrema- direita, detectando habilmente a vulnerabilidade do P.C., o isolou como alvo único da odiosa campanha de violência contra-revolucionária e vandalismo que assolou o Norte em Julho e Agosto. Toda- a Esquerda, e todos os democratas dignos desse nome deveriam ter reagido numa explosão maciça de indignação e protesto, mas nada disso aconteceu. Mesmo uma greve de protesto de meia hora, convocada pela Intersindical, que é controlada pelo P.C., teve uma receptividade muito diminuta em Lisboa, cenário de inúmeras greves, ocupações e manifestações nos meses anteriores. A convicção de que o P.C. estava a ter o que merecia tão enraizada e divulgada que ensombrava o juízo político de muita gente que devia ter reconhecido a ofensiva fascista como sinal de perigo terrível que quase de certeza era.
Deve ter sido o choque de se aperceber da verdadeira extensão do seu isolamento que levantou finalmente o P.C. a mudar de rumo. (Também pode ter sido a pressão exercida pelos quadros e os militantes das bases sobre a direcção, mas não tenho informações que me permitam confirmar ou refutar esta hipótese). O que essencialmente aconteceu foi que ele se apeou do seu alto cavalo e se deixou de armar em único líder e porta-voz legítimo da Revolução Portuguesa. Fê-lo no contexto da luta desenvolvida dentro e fora do M.F.A. para afastar o General Gonçalves do lugar de primeiro-ministro. O principal apoio político do General vinha do P.C., o que deu como resultado que a oposição ao P.C. se traduzia automaticamente em oposição a Gonçalves(16). Fora do M.F.A., essa oposição vinha não só dos Partidos Socialistas e Popular Democrático mas também dos maoístas e alguns outros elementos da extrema-esquerda. Dentro do M.F.A., ela congregou numa aliança incómoda os chamados “moderados”, encabeçados pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Melo Antunes, e o grupo afecto ao General Otelo Saraiva de Carvalho, comandante do COPCON. Escrevendo sobre as “tendências em conflito”, o correspondente especial do Le Monde em Lisboa, Dominique Pouchin, dizia na edição de 19 de Agosto:
“O próprio Partido Comunista parece ter decidido não acompanhar o primeiro-ministro até ao fim e partilhar sozinho com ele o seu isolamento. Apanhado desprevenido pelas crescentes dimensões no seio do M.F.A., o P.C. tacteia a via para um novo rumo. Abstém-se de tomar posição pública sobre os documentos das diversas facções. Os seus militantes reclamam em voz alta “a unidade do M.F.A.”. Mas, discretamente, os dirigentes estão a voltar-se para a Esquerda e a procurar aproximar-se do “projecto revolucionário” elaborado pela ala mais radical do Exército. De outra forma não se explicaria a visita de um membro do Comité Central aos dirigentes do Partido Revolucionário do Proletariado (P.R.P.), que se considera terem sido os inspiradores, se não os autores, do documento do COPCON(3*)”.
Na semana seguinte, Pouchin, escrevendo no Le Monde de 27 de Agosto, referia que as reuniões do M.F.A., concluídas em 25 de Agosto, pareciam, no balanço final, favorecer a Esquerda, e acrescentava:
“A Esquerda e a extrema-esquerda, militares e civis, sem dúvida procurarão rapidamente capitalizar os ganhos conseguidos no dia 25. Para isso têm agora uma “frente unitária”. O acordo alcançado durante a noite de 24 para 25 de Agosto entre o Partido Comunista e um certo número de movimentos da Extrema-esquerda dá aos oficiais progressistas radicais a base que antes lhes faltava.
Eles próprios impulsionaram a formação da “frente”, desempenhando o papel de coordenadores...
O Partido Comunista, o Movimento Democrático Português (M.D.P.) e seis organizações da extrema-esquerda — a Liga de Unidade e Acção Revolucionária (L.U.A.R.), a Frente Socialista Popular (F.S.P.), a Liga Comunista Internacionalista (L.C.I.), o Partido Revolucionário do Proletariado (P.R.P.), o Movimento da Esquerda Socialista (M.E.S.) e o Grupo Primeiro de Maio(*} — acordam em apoiar o General Vasco Gonçalves (que não tinha resignado) até que estivessem preenchidas as condições para o estabelecimento de um “Governo de unidade revolucionária”... os signatários da Plataforma de 25 de Agosto propõem-se abrir a sua frente a organizações e militantes revolucionários, ao M.F.A. e aos órgãos autónomos de poder popular. Decidiram formar um secretariado provisório que pudesse iniciar acções destinadas a uma ofensiva comum “contra a reacção" e a favor do “avanço do processo revolucionário”. Só as tendências maoísta se recusaram a participar na frente, explicando que não querem sentar-se à mesma mesa com “sociais-fascistas”. A primeira iniciativa da Frente é a convocação de uma grande manifestação de massas em Lisboa, em 27 de Agosto. O que se pretende, dizem os signatários, é abrir "uma poderosa ofensiva contra o fascismo, a social-democracia e o imperialismo."
Excelentes “maoistas” estes, que têm medo de manchar a sua pureza revolucionária sentando-se à mesma mesa com representantes do que provavelmente ainda é o maior partido da classe operária em Portugal! Como eles devem ter temido pelo Presidente quando ele se sentou à mesa com Chiang Kai-shek, o açougueiro da classe operária chinesa, ou Richard Nixon, o mais sanguinário dos imperialistas, pelo menos depois de Hitler!
Quanto a nós, que nos preocupamos menos com as pessoas com quem nos sentamos, não podemos deixar de considerar a formação de uma Frente Unitária de Esquerda para o “avanço do processo revolucionário” e contra o “fascismo, a social-democracia e o imperialismo” um passo em frente positivo e potencialmente muito importante. É certo que, de acordo com as últimas informações que nos chegaram, verificou-se uma cisão na Frente, a uma semana da sua formação, em resultado das aberturas do P.C. aos socialistas. Dominique Pouchin relata assim os acontecimentos (Le Monde, 3 de Setembro):
“A situação dos comunistas é difícil. Terão que pagar pela sua política hesitante? A sua “abertura” à Direita acarretou a sua “exclusão” da Frente de Unidade Revolucionária, de que eram o principal Componente. As organizações da extrema-esquerda, com quem se tinham aliado, criticam o Partido Comunista por “abrir a porta à reconciliação com as forças civis e militares que actuam como pontas-de-lança do capitalismo e do imperialismo”. O Secretariado Provisório, formado em 25 de Agosto, decidiu por isso afastar o representante do Partido Comunista. Curiosamente, o Movimento Democrático Português (M.D.P.), aliado fiel do P.C., decidiu continuar na Frente, sem no entanto aprovar o “ostracismo” a que foram votados os comunistas.
O que isto parece indicar é que no princípio de Setembro o P.C. não se tinha realmente decidido entre uma política de frente unida com outros elementos da Esquerda e uma política de manobra no terreno da política burguesa. Se atentarmos na sua história passada e no tipo de conselhos que sem dúvida estará a receber dos outros partidos comunistas da Europa, de Leste e de Oeste, tal indecisão não nos surpreenderá. Mas aconteça o que acontecer no futuro imediato, o que é certo é que o P.C. admitiu em público, e em princípio, reconhecer e cooperar com partidos e grupos revolucionários à sua esquerda que semanas apenas antes desprezava por insignificantes ou insultava de objectivamente contra-revolucionários. Se o caminho que se abre a Portugal é tão pedregoso como tudo parece indicar, o P.C. certamente será tentado, e talvez mesmo obrigado pelos seus inimigos à Direita e pelos seus próprios militantes à Esquerda, a retomar a política de frente unida, como a sua melhor esperança de sobrevivência. Muitos daqueles que, como nós, têm seguido com ansiedade o que se passa em Portugal nestes últimos meses febris, têm a forte convicção de que nunca será demasiado cedo para essa viragem do P.C. à Esquerda.
Entretanto, que se pode dizer das perspectivas do novo Governo, chefiado pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Pinheiro de Azevedo, que, ao que parece, irá incluir um grande contingente de ministros dos Partidos Socialistas e Popular Democrático, e do qual os comunistas serão praticamente excluídos?
Tais perspectivas não são brilhantes. É o mínimo que se pode dizer. A economia portuguesa está de rastos; continua a ser, apesar das várias reformas e nacionalizações, uma economia capitalista; e os novos responsáveis governamentais já tornaram bem claro que não têm qualquer intenção de levar mais longe as transformações, mas antes tencionam abrandar, recuar aqui e ali, e procurar a cooperação do sector privado nacional e os seus vizinhos mais ricos, da Europa. Esta situação dá lugar a uma certa lógica que irá confirmar-se, a despeito de todos os protestos de fidelidade ao objectivo último do socialismo, por muito sinceros que eles sejam.
Engels resumiu brilhantemente essa lógica numa carta a Danielson, datada de 18 de Julho de 1892:
“Todos os Governos, por muito independentes que sejam, não são en demier lieu (em última análise), senão os executores das necessidades económicas da situação nacional. Podem fazê-lo de várias maneiras, bem, mal ou nem bem nem mal; podem acelerar ou retardar o desenvolvimento económico e as suas consequências económicas e jurídicas, mas acabam por ter que cumpri-las."
Em Portugal, a “situação nacional” é uma economia capitalista em crise. É coerente propor, como a Esquerda revolucionária está propondo, que o sistema seja derrubado e instituído um processo de transição socialista. Mas, a não ser isso, a única alternativa válida é dar aos capitalistas, sejam eles portugueses ou estrangeiros, o que for necessário para lhes restaurar a confiança e os persuadir a recomeçarem a investir — após um hiato praticamente completo de um ano e meio — a uma escala suficiente para inverter a actual tendência descendente da economia.
Ninguém sabe dizer exactamente o que é que isto significa em termos concretos, mas certamente incluiria, muito perto do topo da lista, a restauração da autoridade e disciplina no processo laborai, tanto no sector privado como público, e de formas satisfatórias para os capitalistas. Austeridade, evidentemente (para a grande massa dos consumidores). Garantias de propriedade e reforço dos incentivos aos investidores. Subordinação da política externa, económica e não só, aos ditames dos banqueiros e agências governamentais de apoio estrangeiros. Mas para quê continuar? A história recente está repleta de exemplos do que significa para um pequeno país capitalista tentar sair de uma crise sem alterar o seu sistema sócio-económico. A crise pode ser vencida, pelo menos temporariamente, mas as massas pagam invariavelmente um preço assustador em termos do seu nível de vida, e a nação em termos da sua independência.
Apresso-me a acrescentar que as coisas em Portugal foram tão longe que está longe de ser evidente que seja possível um Governo como o que agora existe tranquilizar adequadamente os capitalistas de Portugal e da Europa. Os socialistas e populares democratas demonstraram ser esteios demasiados frágeis para neles se poder assentar; o M.F.A. está dividido; uma grande parte da classe operária está sob liderança revolucionária. O Governo actual é sem dúvida melhor que o anterior, do ponto de vista dos capitalistas, mas porquê ficar satisfeito como uma dúbia solução de compromisso? Porque não exercer pressão e esperar até que pessoas “responsáveis” tomem o poder e reponham a casa (Portugal) em ordem? Dir-se-á que isso seria um regresso ao salazarismo? Bom, talvez não fosse exactamente isso, e além do mais as burguesias de Portugal e da Espanha sentiram-se bem felizes com o salazarismo durante meio século. Sabemos que elas preferem as democracias parlamentares, mas afinal a democracia é um luxo que países pequenos e pobres como Portugal talvez não se possam permitir. Uma coisa de cada vez.
A perspectiva que se apresenta a este sexto (ou será o sétimo?) Governo Provisório, é pois, quando muito, obscura. Se vencer, trairá o que afirma defender; se falhar, porá o país face a face com uma crise política comparada com a qual a dos últimos dois meses parecerá-insignificante. Porque nessa altura a opção já não será entre um “Governo” impotente chefiado por um Vasco Gonçalves e outro chefiado por um Pinheiro de Azevedo, mas entre a verdadeira revolução e a pura contra-revolução.
Se esta análise está correcta, o período que agora se inicia estará muito longe da calma, da ordem e da consolidação que pessoas bem-intencionadas, dentro e fora de Portugal, consideram ser as necessidades mais urgentes do País. Exteriormente, caracterizar-se-á provavelmente pela continuação da indecisão e da confusão. Mas por dentro será um período de febril preparação para a luta final. O alinhamento à Direita é já suficientemente claro, continuando em aberto, como questão de fundo, a de saber que parte do corpo de oficiais das Forças Armadas se passará para a contra-revolução quando a coisa virar.
A situação da Esquerda é muito menos clara. Como irão os comunistas analisar a situação e que papel procurarão desempenhar? Que opção terão os chamados “moderados” do M.F.A. quando se tornar evidente que a luta de classes em Portugal já transformou a moderação num sonho utópico? A que ritmo e até onde irá o movimento de massas? E, talvez mais importante ainda, que está a acontecer e o que irá acontecer no futuro próximo entre os soldados e marinheiros? São tudo perguntas que talvez não tardem a ter resposta.
(17 de Setembro de 1975)
Notas de rodapé:
(1) Foram-me de muita utilidade as seguintes fontes: Jay O’Brien, Portugal and África: A Dying Colonialism, Monthly Review, Maio de 1974; Robin Blackburn, The Test in Portugal, New Left Review, Setembro-Dezembro 1974; Kenneth Maxwell, The Hidden Revolution in Portugal, New York Review of Books, 17 de Abril de 1975; Big Flame ("grupo socialista revolucionário” da Grã-Bretanha), Portugal: a Blaze of Freedom, sem data, mas contendo material até Maio de 1975, distribuído nos Estados Unidos por Radical América, P.O. Box B, North Cambridge, Ma.. 02140 a 1 dólar cada. A maior parte do folheto dos Big Flame baseia-se ou é transcrita de publicações socialistas revolucionárias francesas e italianas. Além disso, procurei utilizar judiciosamente uma série de material, escrito e oral, recolhido durante uma visita de duas semanas e meia que fiz a Portugal em Junho de 1975. Sobre a estrutura de classes em Portugal, por exemplo, baseei-me no Programa Político do M.E.S. — Movimento de Esquerda Socialista, um dos agrupamentos políticos à esquerda do Partido Comunista, com bases entre os estudantes e intelectuais, bem como em alguns sectores da classe operária. As coisas hoje mudam tão depressa em Portugal, que é preciso referir que este artigo está a ser escrito em fins de Julho, princípios de Agosto. (retornar ao texto)
(2) À letra, Ribatejo e Alentejo significam respectivamente "acima do Tejo”, e "para lá do Tejo”, sendo o Tejo o rio que nasce em Espanha e atravessa o país aproximadamente a meio e estando Lisboa situada no magnífico porto natural formado pela foz do rio. (retornar ao texto)
(3) Em francês no original (N. do T.) (retornar ao texto)
(4) Sobre este assunto, ver a análise muito instrutiva de Mareei Mazoyer em René Dumont, Development and Socialisms (New York: Praeger, 1973), pags. 277-290. (retornar ao texto)
(5) Nomeadamente as classes agrícolas são relativamente mais numerosas e o sector de serviços relativamente mais restrito. Mas não é correcto dizer, como Jay O’Brien no artigo da Monthly Review atrás citado, que a "agricultura ainda emprega o grosso da mão-de-obra”. Isso foi assim até meados do século XX; mas Portugal, tal como o resto da Europa Ocidental, sofreu um processo bastante rápido de desenvolvimento capitalista nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. (retornar ao texto)
(6) É frequente dizer-se que a posição de raiz do M.F.A. resultou de certas experiências dos seus membros em África — do seu estudo da ideologia e estratégia dos movimentos de libertação, discussões com prisioneiros africanos, etc. Embora assim fosse em muitos casos, eu tenho dúvidas quanto à generalização da sua validade. É certo que em muitos casos o impacto radicalizador das guerras de África foi muito directo. Os soldados (e oficiais subalternos) obrigados a lutar anos a fio, longe da sua terra e em condições de extrema dureza, sem quaisquer hipóteses de vitória, são muito bem capazes de criar a sua própria casta anti-imperialismo.
Acrescente-se a isto alguns outros factos: o mau estado da economia é da sociedade portuguesa, grandemente agravado pela erosão que as guerras causaram nos recursos do país; o facto de a maioria dos militares pertencer às classes especialmente atingidas por estas condições; e o estilo de vida manifestamente privilegiado e luxuoso da pequena minoria que vivia da exploração dos povos africanos e português. Facilmente se compreenderá que um movimento destinado a derrubar a ditadura e pôr termo à guerra teria que favorecer também reformas internas radicais. O meu próprio ceptismo quanto à importância da influência ideológica africana foi reforçado por um episódio pessoal. Tive a sorte de conhecer um dos membros fundadores do M.F.A., hoje capitão, ainda na casa dos vinte anos, e comandante de uma unidade da região de Lisboa, que se mostrou uma pessoa de forte personalidade e um revolucionário marxista convicto. Eu estava preparado para ouvir um relato das experiências africanas, pelo que me surpreendeu começar por ouvi-lo dizer que nunca tinha saído da Europa. Era um especialista em armas modernas, que tinha recebido a respectiva instrução em França, onde viveu alguns anos e casou com uma francesa. As ideias revolucionárias circulam hoje por muitos canais! (retornar ao texto)
(7) É frequente descrever-se o COPCON como força de segurança ou mesmo como polícia política do M.F.A. Por isso importa, em nome da exactidão, esclarecer o que ele é de facto. Numa entrevista ao jornal socialista da Esquerda italiana, Lotta Continua (12 de Maio de 1975), foi feita a Otelo Saraiva de Carvalho a seguinte pergunta: “Quando foi fundado o COPCON? Qual é exactamente o seu fim? Em que medida é um corpo paralelo ao alto comando?” Eis o que ele respondeu: "Importa que sejamos claros a este propósito. O alto comando do Exército tem funções administrativas e materiais que são importantes numa altura de reorganização geral. O COPCON foi formado num período de crise para o primeiro Governo-Provisório, em Julho passado, altura em que o primeiro- ministro spinolista, Palma Carlos, foi afastado e substituído por Vasco Gonçalves. Competem-lhe funções operacionais. E o quartel-general de comando de todo o Exército em Portugal. Além disso, tem à sua directa disposição certas forças de intervenção, tais como o R.A.L. 1 (Regimento de Artilharia Ligeira n.° 1), bem como duas companhias de paraquedistas e o destacamento de fuzileiros que estão sempre às nossas ordens. Em contrapartida, não temos ligação permanente com unidades de marinha e aviação. Mas, se tal for necessário, podemos utilizá-las, tal como aconteceu em 11 de Março (1975), quando tivemos que realizar reconhecimento aéreo, e durante as eleições. O COPCON dispõe também dos meios para tomar o efectivo controle operacional de todo o país, centralizando a acção através dos vários quartéis-generais regionais”. Desta descrição se verificará que, embora não seja errado dizer que o COPCON é uma força de segurança, também não é muito exacto, e que é muito errado chamar-lhe polícia política. Outro ponto que ressalta muito claramente é a posição fulcral ocupada por Carvalho em toda a organização do M.F.A. (retornar ao texto)
(8) Engels deixou escrito algures que era garantido que, no dia a seguir à revolução, a oposição inteira se uniria solidamente sob a bandeira da pura democracia. Apercebemo-nos da profundidade da observação quando lemos, dia após dia, no The New York Times e outros apologistas leais do capitalismo e do imperialismo, o que eles dizem sobre as terríveis violações da democracia (e também do socialismo, nada menos!) perpetradas pelos malvados militaristas portugueses. E quando alguém me diz que eu difamo o Partido Socialista Português chamando-lhe burguês e tenta prová-lo com a asserção de que ele não é mais burguês do que a maioria dos outros partidos socialistas europeus, eu respondo: “É exactamente isso — nem mais nem menos”. (retornar ao texto)
(9) A questão da caracterização de uma sociedade que iniciou a transição e depois foi vencida ou retrocedeu conta-se entre os mais importantes problemas por resolver na teoria marxista. Para efeitos da presente análise, nós felizmente não precisamos de tomar uma posição sobre este assunto. (retornar ao texto)
(10) A principal faixa “esquerdista", de preocupação para o Governo tem sido o M.R.P.P. (Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado), que é virulentamente sectário e provocador, chama ao M.F.A. “fascista” e ao Partido Comunista “social-fascista” e procura deliberadamente a detenção dos seus militantes para provar a sua afirmação. No entanto, e segundo relatos da imprensa, quando a violência de massas começou a sua escalada em Julho, militantes do M.R.P.P. presos foram soltos, num gesto destinado a consolidar as forças capazes de se oporem aos contra-revolucionários. (retornar ao texto)
(11) O artigo de fundo da revista tem sistematicamente por ante-título “A revista do mês” (Review of the Month). (N. do T.). (retornar ao texto)
(12) Devo no entanto referir, com mágoa, que encontrei, em Portugal e em França, socialistas convictos cuja aversão ao P.C.P. era tão forte que não conseguiam varrer do seu espírito uma ilusão na qual Soares e o P.S. desempenham o papel de campeões da Revolução Portuguesa. Em tais casos, pelo menos nesta fase, de nada servem os argumentos racionais. (retornar ao texto)
(13) É oportuno lembrar, a este respeito, que no Chile foram os grémios (associações profissionais e comerciais) que desempenharam um papel fundamental no derrubamento do Governo de Allende. (retornar ao texto)
(14) No entanto, o M.R.P.P. não parece ter quaisquer relações especiais com Pequim. Um dos mais pequenos partidos marxistas-leninistas tem cartazes por toda a Lisboa em que se vê o seu dirigente a ser saudado por um anfitrião chinês, em Pequim. (retornar ao texto)
(15) Assisti a uma reunião da direcção do Sindicato dos trabalhadores Têxteis do Sul, durante a qual um porta-voz do sindicato apresentou uma longa e muito útil recapitulação da história da classe operária sob a ditadura e depois desta. Das minhas notas consta o seguinte: “Dois meses depois do 25 de Abril de 1974, praticamente todas as fábricas em Portugal tinham a sua Comissão de Trabalhadores”. Naquela reunião fiquei também a saber que cerca de 10 % dos operários portugueses estão empregados nas indústrias têxtil e de vestuário, que contribuem com cerca de 20 % para as exportações de Portugal. (retornar ao texto)
(16) Por justiça para com um homem honrado e de princípios, deve-se salientar que Gonçalves nunca foi um instrumento ou fantoche de ninguém. Mareei Niedergang, escrevendo de Lisboa em Le Monde de 13 de Agosto, prestou ao General a seguinte homenagem: “Dos três (componentes do triunvirato de generais em que o M.F.A. delegou a autoridade suprema por um período de algumas semanas durante o Verão), o General Gonçalves é o mais convicto e o mais convincente, o mais sincero, o mais devotado à sua causa, excessivo, apaixonado, intransigente, um Saint-Juste de uniforme, franzino e atormentado: "Nenhuma liberdade para os inimigos da liberdade”. Diz-se que ele tem a fé ardente de um neófito. Não é assim: já em 1961 Gonçalves conspirava contra Salazar, com o risco da sua própria vida, ao lado de militantes do P.C. ou da extrema-esquerda. O que mais o aproxima dos dirigentes do P.C.P. talvez não seja tanto a eficácia, o método e a ideologia como a lembrança das lutas clandestinas e corajosas de há quinze anos”. Na altura em que se demitiu, o The New York Times especulava que esta demissão quase de certeza que não significava o seu afastamento da cena política portuguesa. Oxalá que não! (retornar ao texto)
(1*) Permitimo-nos rectificar a informação do autor, transcrevendo as percentagens realmente obtidas pelos partidos mais votados: P.S. 37,87%, P.P.D. 26,38%, P.Q.P. 12,53%, C.D.S. 7,65 % e M.D.P./c.D.E. 4,12%. (retornar ao texto)
(2*) Não tenho qualquer informação sobre o Grupo Primeiro de Maio. (retornar ao texto)
(3*) Convém talvez acrescentar que a maioria das pessoas com quem dialoguei em Lisboa dava como certo que Otelo Saraiva de Carvalho estava próximo do P.R.P. (retornar ao texto)
| Inclusão | 24/06/2019 |