
MIA > Biblioteca > Gorender > Novidades
O último terço do século XX assinala transformações de grande importância no sistema capitalista mundial. Essas transformações não debilitaram a essência do modo de produção capitalista, na verdade, reforçaram-na, uma vez que se acentuou sua característica mundial. Nisto consiste, precisamente, o processo de globalização, nome novo para o antigo processo de internacionalização ou de criação do mercado mundial nascido com o próprio capitalismo.
O que se dá, em nossa época, é o fenômeno do movimento das economias nacionais dentro das fronteiras políticas dos Estados nacionais ser, constantemente e a todo instante, ultrapassado pelo movimento das empresas multinacionais, em número muito restrito, que atuam, com agilidade quase desembaraçada, no cenário do mercado mundial. As leis intrínsecas do modo de produção capitalista manifestam-se, por isso mesmo, com maior intensidade, determinando a mercantilização e a financerização de todas as relações econômicas e sociais. As alterações verificáveis nas relações de produção não atenuam a essência do modo de produção capitalista; ao contrário, fortalecem seus traços fundamentais, cuja contundência como que se incrementa ao infinito. Esses traços fundamentais resumem-se no capital e na sua dinâmica. Um dos indicadores ideológicos de tal fenômeno explicita-se no discurso sobre a inelutabilidade da competição e, em conseqüência, sobre as virtudes ecumênicas da competitividade. Proclama-se, na teoria econômica, a soberania virtuosa do mercado e repele-se toda intervenção externa que possa afetá-la ao atingir o curso espontâneo e autônomo dos agentes mercantis.
As transformações no sistema capitalista mundial decorrem da recente revolução tecnológica em vários âmbitos, mas, sobretudo, na informática e nas telecomunicações (Schaff; 1993; Coutinho et al., 1995). Seus efeitos são observados na organização das empresas, nos métodos de produção, nas relações de trabalho e na política financeira dos governos.
Uma das questões cruciais de tal processo diz respeito à passagem do regime fordista ao regime chamado de produção enxuta (lean production).
Ao introduzir novos métodos de trabalho em suas fábricas, no começo do século, Henry Ford suplantou a produção de tipo artesanal, então característica da indústria automobilística, pela produção em massa. Assim, abriu caminho para que essa indústria se tornasse, nos Estados Unidos e, mais tarde, em âmbito mundial, o setor de maior peso em volume de produto e de valor adicionado.
As inovações de Ford visaram ao mesmo objetivo da chamada organização científica do trabalho sistematizada por Frederick Taylor, ou seja, a eliminação dos tempos mortos no processo de trabalho a fim de alcançar grande volume de produção a custos baixos. Por isso mesmo, o fordismo incorpora a doutrina de Taylor, induzindo à denominação de regime fordista-taylorista. Tal associação indica que havia um problema proposto à economia capitalista no começo do século e que tal problema foi resolvido, não por acaso, nos Estados Unidos, pelos métodos introduzidos por Taylor e Ford.
A fim de superar a produção de tipo artesanal, o regime fordista adotou o princípio taylorista básico da separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, reservando o primeiro exclusivamente aos diretores e gerentes, enquanto o segundo caberia aos trabalhadores no chão da fábrica. Os trabalhadores foram concitados a não pensar, uma vez que disso se encarregavam seus superiores hierárquicos. Concentrando-se nas tarefas manuais, o trabalho deveria seguir uma rígida norma de movimentos, visando à máxima economia de tempo. Mais do que uma disciplina do trabalho, Taylor e Ford propunham uma ética, um padrão de conduta aos trabalhadores (Gramsci, 1949; Harvey, 1994; Altvater, 1995).
Com a esteira de montagem, as tarefas produtivas puderam ser parceladas ao extremo, numa repetição rotineira sem fim. Ao mesmo tempo, peças, componentes e produto final foram padronizados. Reunindo contingentes de milhares de trabalhadores em cada planta, tornou-se possível alcançar economias de escala, que baratearam o automóvel. Este deixou de ser artigo de luxo e se fez acessível a grande número de consumidores, embora continuasse o mais caro dos bens duráveis de consumo. A homogeneização dos trabalhadores em nível baixo de qualificação veio acompanhada pela homogeneização massificada do produto, também no nível baixo de preço e qualidade padronizada (Womack et al., 1992).
A produção em regime fordista implantou-se nos Estados Unidos, porém não migrou para outro país até o segundo pós-guerra. Nesse entretempo, o gigantesco mercado norte-americano revelou-se insuficiente para o volume da produção fordista, o que ficou patente ao eclodir a crise econômica em 1929, dando início à Grande Depressão. A superprodução indicava os limites impostos pelas dimensões do mercado. Embora o governo Roosevelt aplicasse técnicas de intervenção estatal antecipatórias da doutrina de Keynes, foi somente após a Segunda Guerra Mundial que se recuperou o mercado adequado à produção em massa de automóveis.
Dois fatos se destacam na conjuntura imediata do segundo pós-guerra.
O primeiro refere-se ao Plano Marshall – instrumento de norte-americanização da Europa Ocidental e de criação, no seu território, do mercado apto a suportar a produção em massa de automóveis e de outros bens de consumo duráveis. O Plano Marshall teve influência decisiva na aceleração da recuperação dos países europeu-ocidentais. Os Estados Unidos precisavam da prosperidade européia a fim de que pudessem escoar capitais excedentes e mercadorias exportáveis. Mas sua estratégia de superpotência requeria também que uma Europa Ocidental próspera fosse capaz de barrar a expansão do comunismo imperante no Leste do continente (Altvater, 1995).
O segundo fato diz respeito à aceitação generalizada da doutrina de Keynes pelos países capitalistas desenvolvidos. A lembrança da crise econômica, prolongada por toda a década de 30, era demasiado recente para que dela não se tirassem algumas lições. Tanto mais que os trabalhadores se mostravam combativos e organizados na luta por melhoras concretas no seu padrão de vida. A adoção do Estado do Bem-Estar Social (Welfare State) preencheu três exigências naquelas circunstâncias: permitiu a expansão da demanda agregada, ajustando-a à absorção da produção em massa característica do fordismo; elevou gradualmente o padrão de vida dos trabalhadores e ganhou o seu consenso a uma política de tipo social-democrata (em alguns casos, aplicada por conservadores ou por liberais, como nos Estados Unidos, ou por democrata-cristãos, como na Itália); fortaleceu a Europa Ocidental contra a ameaça comunista.
A ênfase keynesiana na demanda vinha a calhar para a implementação do regime fordista de produção em massa. Esta seria inviável se não tivesse correspondência numa demanda também massificada. Criar a demanda incentivadora do investimento constituiu o cerne da proposta de Keynes, em face da Grande Depressão e de suas seqüelas, nos anos 30. Essa demanda adequava-se ao tipo de oferta fordista a tal ponto que a orientação keynesiana tem sido considerada essencial à caracterização da fase fordista do capitalismo (Harvey, 1994; Altvater, 1995).
Contudo, à altura da década de 70, após cerca de 30 anos, hoje qualificados de gloriosos, o regime fordista-keynesiano já evidenciava com muita clareza seus pontos fracos, traduzidos no acúmulo de deficiências. Em primeiro lugar, chamava a atenção a desmotivação dos operários, manifestada em altos índices de abandono do trabalho e rotatividade no emprego, no absenteísmo elevado, no alcoolismo, no fraco empenho nas tarefas (Gounet, 1991; Harvey, 1994).
A par disso, a inflexibilidade e o ritmo da esteira de montagem resultavam em quantidade considerável de produtos defeituosos, razão pela qual era preciso ocupar muitos supervisores de qualidade e operários na tarefa de reparos, destinando-lhe instalações e outros meios materiais. Como é compreensível, o trabalho de reparação poderia recuperar a qualidade padronizada dos produtos, porém não lhe agregaria valor. O método fordista exigia a manutenção constante de grandes estoques de reservas de insumos, implicando gastos financeiros e despesas de armazenagem. Por fim, prolongava-se em demasia o tempo de adaptação das máquinas dedicadas (ou sua substituição), quando se tratava de colocar em linha de produção um novo modelo de automóvel (Womack et al., 1992; Coriat, 1994; Harvey, 1994).
As deficiências e insuficiências do fordismo salientaram-se, particularmente no quadro do primeiro choque do petróleo (1973) e da recessão cíclica de 1973-1975. Simultaneamente, acentuavam-se as dificuldades fiscais do intervencionismo estatal keynesiano e do Estado do Bem-Estar Social. A aceleração do processo inflacionário evidenciava os tropeços do regime fordista-keynesiano, no momento em que a acumulação de capital e o crescimento das forças produtivas tocavam os limites cíclicos da economia capitalista. Por fim, a introdução dos microprocessadores no interior da produção, intensificada na década de 80, tornou mais evidente a inadequação do regime fordista às inovações tecnológicas e, em especial, à automação eletrônica.
A entrada em cena dos produtores japoneses de automóveis intensificou a concorrência, colocando em xeque o domínio do mercado pelos produtores mais antigos dos Estados Unidos e da Europa. A partir daí, registram-se tentativas de superação dos problemas apresentados pelo regime fordista imperante.
Uma dessas tentativas ocorreu na Suécia, por iniciativa da Volvo, nas suas fábricas em Kalmar e Uddevalla. A fim de despertar o interesse participativo, sufocado pela rotinização da esteira de montagem, buscou-se suplantar o trabalho parcelado e repetitivo ao extremo por meio da constituição de grupos de operários, aos quais se confiariam tarefas manuais e também intelectuais, combinadas em prolongado ciclo operacional. A experiência sueca não obteve êxito, o que não se atribui à experiência em si mesma, mas às condições empresariais precárias em que se encontrava a Volvo (Berggren, 1989; Freyssenet, 1994).
Nos Estados Unidos, a partir de 1973, a General Motors instituiu o programa da Quality of Work Life (QWL). Com ele, visava à organização de grupos de trabalho, de tal maneira que os operários desenvolveriam um ciclo longo de tarefas (cinco minutos), ao invés do ciclo curto (um minuto, no máximo), como era usual na esteira de montagem fordista. As dificuldades empresariais da General Motors anularam os possíveis ganhos da experiência, impedindo sua continuação (Micheli Thirión, 1994).
As mais fortes empresas automobilísticas da Alemanha puderam resistir por mais tempo à coerção da mudança em virtude do regime de trabalho e de produção estabelecido no país, como resultante da correlação de forças de classe no segundo pós-guerra e do patamar tecnológico que já havia alcançado. Este regime de trabalho e de produção apoiou-se na alta qualificação da grande maioria dos trabalhadores e na tecnologia de vanguarda, constantemente atualizada. A orientação social-democrata e keynesiana, potenciada por greves e outras manifestações operárias, conduziu à elevação dos salários e dos benefícios trabalhistas e, em 1995, à jornada de trabalho de 35 horas semanais, a menor do mundo. Compreende-se que tais resultados tenham consolidado o consenso dos trabalhadores ao sistema econômico e político capitalista. Tais fatores permitiram à indústria automobilística alemã garantir fatia importante do mercado mundial no setor dos carros compactos e médios (Volkswagen) e dos carros de luxo (BMW e Mercedes-Benz).
Já para as empresas norte-americanas, a necessidade de mudanças apresentou-se com caráter de urgência. No curso dos anos 80, as três grandes montadoras da indústria automobilística dos Estados Unidos passaram por gravíssimas crises, que trouxeram ameaças de falência e obrigaram o governo, no caso da Chrysler, a fornecer socorro financeiro. A busca de solução aos impasses aparentes na produção se fez premente. E a solução foi encontrada no concorrente mais temível, que disputava o mercado. O êxito dos fabricantes japoneses chamou a atenção para os seus métodos. Constatou-se que tal êxito não se devia tanto ou tão-somente ao baixo nível dos salários e à intensidade do trabalho. Outro fator tinha influência decisiva: a organização do trabalho. O aguçamento da concorrência e a crise econômica estimularam a difusão do chamado modelo japonês, o que trouxe diversos problemas novos nos Estados Unidos e demais países que procuraram adotá-lo (Keller, 1991, 1994; Womack, et al., 1992).
Nos termos da teoria da regulação, cabe inferir que o regime de regulação fordista-keynesiano do modo de produção capitalista entrou em crise na década de 70 e foi substituído por outro, o qual trouxe consigo a mudança do regime de desenvolvimento e do regime de acumulação. Esta transformação no sistema capitalista mundial abrange o Estado, as inovações tecnológicas, as políticas financeiras e industriais, o comércio mundial, as empresas multinacionais, as relações internacionais, a organização do trabalho, as formas de emprego e desemprego, as ideologias, os estilos de vida e os comportamentos individuais, com efeitos sobre a luta de classes (Aglietta, 1976; Boyer, 1990).
A seguir, abordaremos a questão da mudança na organização do trabalho.
O chamado modelo japonês originou-se na fábrica automobilística Toyota, nos anos 50, daí também ser designado como toyotismo. Atribui-se ao engenheiro Taiichi Ohno o mérito principal pela criação dessa forma de organização do trabalho.
Pode-se afirmar que os seus elementos fundamentais são a economia de escopo, as equipes de trabalho (também chamadas de grupos de trabalho ou células de produção) e o just in time (JIT).
Os administradores japoneses, no imediato pós-guerra, precisavam dar resposta ao problema de como produzir para um mercado então muito estreito. O método fordista seria inaplicável, uma vez que se baseia na economia de escala com vistas a um grande mercado. Seria preciso, por conseguinte, pensar ao inverso do método fordista. Ou seja, como produzir em pequena quantidade e, assim mesmo, a custos baixos, apropriados à obtenção de um produto acessível aos consumidores. A economia de escala deveria ser substituída pela economia de escopo.
A proposta seria factível confiando-se a produção a equipes de trabalho, que se encarregariam de um conjunto de tarefas, com margem decisória para estabelecer seu programa de trabalho tendo em vista a meta fixada pela gerência, sob os aspectos da qualidade e da quantidade. Cada equipe seria responsável pela qualidade de sua produção, podendo inclusive paralisar a cadeia produtiva ao notar algum defeito. Em última instância, o objetivo deveria ser zero-defeitos. Assim, eliminava-se todo o setor de reparos ao final da cadeia de montagem, poupando os gastos que implicava. Também o setor de manutenção seria eliminado ou significativamente reduzido, na medida em que as equipes se encarregassem de realizá-la. Os integrantes das equipes de produção deviam ser operários polivalentes, com o domínio de vários ofícios, o que lhes permitiria a rotação de uma tarefa a outra, tornando o trabalho mais interessante. Semelhante divisão do trabalho permitiria ainda que cada integrante da equipe tocasse não apenas uma, mas várias máquinas ao mesmo tempo.
O trabalho por equipes também possibilitaria sair da camisa-de-força das máquinas dedicadas – características do fordismo – e passar a máquinas de ajuste flexível e rápido, que poupariam o tempo requerido a fim de preparar a produção de novos modelos e introduzir modificações em cada um deles.
Se o fordismo eliminou os tempos mortos (de ociosidade forçada do operário), próprios do processo de trabalho de tipo artesanal, a organização japonesa eliminou os tempos mortos próprios do fordismo, com isto fazendo baixar os custos. A baixa destes acentuou-se ainda com a eliminação ou enxugamento dos setores de reparos e de manutenção. Uma terceira vantagem foi conseguida com a produção de lotes menores de produtos a custos competitivos, ou seja, com a economia de escopo: a vantagem da diversificação, escapando da padronização rígida imposta pelo método fordista, o que tornava os produtos mais atraentes, assim atendendo à variação de preferências dos consumidores.
Outro elemento fundamental da organização japonesa do trabalho – o JIT – visou à redução drástica dos estoques de insumos de reserva, cuja acumulação dentro da fábrica é característica do regime fordista. Raciocinando ao inverso dos fabricantes norte-americanos, como escreveu Coriat (1994), a Toyota calibrou os estoques de insumos de reserva estritamente de acordo com o nível da demanda em cada momento dado. Os estoques deveriam acompanhar as oscilações da demanda, crescendo ou diminuindo com ela. Ao contrário do que sucede na organização fordista, na qual os estoques são determinados pelas possibilidades da oferta, ou seja, pela quantidade possível de ser produzida.
O sistema JIT impõe ajustamento rigoroso entre a montadora – fábrica terminal – e os fornecedores de insumos (matérias-primas, peças e componentes). Os fornecimentos tornam-se muito mais freqüentes, requerendo a solução de problemas de localização espacial, tráfego, horário etc. Em conseqüência, os fornecedores escalonam-se em vários níveis segundo a sua hierarquia, cabendo somente aos de primeiro nível a relação direta com a fábrica terminal. Entre esta e os fornecedores de primeiro nível se estabelece uma relação de associação por meio de participações acionárias cruzadas.
O sistema JIT não se aplica somente aos fornecimentos externos, mas também às relações dentro da fábrica entre as diversas seções ou equipes de trabalho. Cada uma delas avisa àquelas, que se encontram à jusante na cadeia de produção, o quantum de peças trabalhadas precisará dentro de certo lapso de tempo. O aviso se faz por meio de um cartaz ou mostrador (kanban). Dessa maneira, a atividade de cada seção ou equipe não é determinada pelas que se encontram atrás na cadeia de montagem (como no fordismo), porém pelas que se encontram à frente. Daí resulta que as seções ou equipes trabalham praticamente sem estoques de peças anteriormente produzidas. O dispositivo kanban pode chegar à sofisticação de fazer da fábrica um sistema de minifábricas, relacionadas entre si através de pedidos e fornecimentos.
Ao reduzirem os estoques de reservas de insumos, o JIT e o kanban trouxeram diminuição substancial de encargos financeiros, bem como de despesas materiais e de força de trabalho exigidos pela armazenagem (Womack et al., 1992; Hirata, 1993; Coriat, 1994; Hollanda Filho, 1994).
A organização japonesa desenvolveu-se, no território de origem, com um regime especial de relações da empresa com os trabalhadores e os seus sindicatos.
Os trabalhadores permanentes devem ter nível mais elevado de instrução e recebem treinamentos sucessivos dentro da empresa. O investimento feito no treinamento de uma parte dos empregados aumenta o interesse da empresa em retê-los e, ademais, em conceder-lhes a prerrogativa de vitaliciedade.
A remuneração de tais trabalhadores consta de um salário básico, cujo montante depende da equipe à qual pertençam e do seu desempenho individual avaliado pela gerência (o que inclui itens como cursos realizados, sugestões aceitas para aperfeiçoamento do trabalho, cumprimento de tarefas etc.). Uma vez que a remuneração fica na dependência da avaliação individual pela gerência, esta detém grande força de pressão. O salário básico aumenta de acordo com o tempo de serviço, independentemente de promoções por mérito, completado por bonus, cujo montante variável é determinado pelos lucros da empresa. Os bonus costumam representar cerca de 30% da remuneração total do trabalhador (Womack et al., 1992; Hirata & Zarifian, 1991; Hirata, 1993, 1993-a; Humphrey, 1993; Coriat, 1994; Micheli Thirión, 1994; Hollanda Filho, 1994).
Braverman (1974) formulou a tese sobre a tendência à desqualificação contínua do trabalho. A degradação cada vez mais acentuada do trabalho seria, pois, inelutável nas condições do capitalismo.
A observação da organização japonesa motivou a contestação da tese de Braverman. Em certa etapa da evolução da técnica, poderia ser necessária e vantajosa para as empresas capitalistas a promoção da qualificação dos empregados. O trabalho em equipes, a polivalência e a rotação de funções, o manejo de máquinas-ferramenta de controle numérico computadorizado (MFCNC), o controle estatístico de processo e outros procedimentos exigiriam um trabalhador dotado de instrução mais elevada do que o tarefeiro típico da cadeia de montagem fordista. Demais disso, exigiriam um trabalhador participativo, envolvido com os objetivos da empresa (Paiva, 1989; Freyssenet, 1993; Salm, 1993; Micheli Thirión, 1994; MacDuffie, 1995).
A organização japonesa foi objeto de um livro assinado por Womack, Jones e Roos (1992), resultado de pesquisa financiada pelo MIT, dos Estados Unidos. Em A máquina que mudou o mundo, obra que alcançou difusão notável, os autores fazem recomendação entusiástica das inovações toyotistas. A louvação de Womack e colaboradores, contudo, vem sendo qualificada e contestada.
Uma primeira discussão diz respeito ao teor de inovação contido nos procedimentos das fábricas japonesas. Se há autores que os consideram fortemente inovadores, outros observam que, afinal, o toyotismo tem o mesmo objetivo do fordismo. Em última instância, a eliminação ou máxima redução possível dos tempos mortos. Daí que se identifique o toyotismo com algo como um pós-fordismo, o qual, sem alterar a essência fordista, acrescentaria umas tantas novidades, como o JIT e os círculos de controle de qualidade (CCQ). Segundo outros autores, o toyotismo não seria mais do que acentuação da intensidade do trabalho própria do fordismo (Silva, 1991; Gounet, 1991; Wood, 1993; Cohen, 1993; Castro, 1993, 1995; Parker & Slaughter apud Babson, 1995).
A observação minuciosa, desprendida de louvações, não podia deixar de constatar, no próprio país de origem, que a organização japonesa do trabalho tem, antes de tudo, caráter dual. Na indústria em geral, os trabalhadores permanentes constituem coeficiente de cerca de 30% do total, compondo um núcleo que goza de vitaliciedade no emprego, garantia de promoções por antigüidade e outros benefícios. A maioria dos empregados, pelo contrário, é contratada em regime de trabalho temporário, com menor remuneração salarial e aplicação em funções de qualificação inferior. Nas fábricas montadoras de automóveis, o quantitativo de operários permanentes oscila em torno de 90%, servindo a margem de 10% à contratação variável de operários temporários. As fábricas de autopeças cumprem também a função de ajuste do número de empregados do conjunto do setor automobilístico às exigências da conjuntura. O quantitativo de empregados temporários abrange principalmente mulheres, com preferência dos empregadores por mulheres acima dos 40 anos, praticamente fora da idade fértil. São elas que fornecem o contingente maior de trabalhadores menos qualificados e pior pagos, em condições precárias (Hirata & Zarifian, 1993; Hirata, 1993-a; ; Osawa, 1993; Coriat, 1994).
Apesar do privilégio do emprego garantido, o núcleo de trabalhadores permanentes nem por isso deixa de sofrer a pressão característica da organização japonesa. O trabalho em equipe e de caráter polivalente e rotativo oferece, sem dúvida, ajustamentos estimulantes aos integrantes da equipe. Mas o funcionamento desta atribui à gerência vantagem possivelmente mais significativa. A equipe dispensa supervisores, uma vez que ela própria exerce o controle sobre o desempenho de todos e cada um dos seus membros. Os indivíduos, que a compõem, ficam incessantemente submetidos à vigilância coletiva, dado que as falhas individuais se refletem no resultado do trabalho conjunto. Semelhante astúcia da organização japonesa não só traz a eliminação da despesa com supervisores, como sobrepõe os trabalhadores ao controle mais rigoroso dos próprios companheiros de tarefas. Seria o management by stress, enfatizado por Parker e Slaughter (Dohse et al., apud Micheli Thirión, 1994; Parker & Slaughter, apud Babson, 1995; Humphrey, 1995).
Tal administração é estressante não somente por motivo da tensão provocada pela vigilância coletiva. O estresse procede também e não menos do kaizen – norma de aperfeiçoamento ininterrupto, a qual fustiga o empregado com a inquietação da busca incessante. O objetivo de zero-defeitos, visando à qualidade ótima da produção, disciplina os trabalhadores na medida que lhes impõe concentração mental estafante na tarefa a realizar. A tudo isso adiciona-se o andon – dispositivo visual que orienta os trabalhadores de cada seção a respeito do ritmo de trabalho e permite à gerência acelerá-lo quando conveniente (Gounet, 1991; Micheli Thirión, 1994).
Por conseguinte, a organização japonesa, ao tempo em que impele uma parte dos operários a níveis mais altos de qualificação, submete-os a uma intensidade de trabalho maior do que a da esteira de montagem fordista. Os tempos mortos são anulados precisamente para serem substituídos por tempos de trabalho vivo. O esforço intensifica-se e aumenta o gasto de energias psico-somáticas dos operários, enquanto continua com a administração – como é inerente à organização fabril – a prerrogativa hierárquica da fixação de metas para as equipes, da avaliação do desempenho individual e da designação para os postos de trabalho.
Os efeitos negativos de tais fatores se aguçam com a imposição freqüente de horas extras e trabalho em dias feriados, o que resulta no maior número de horas trabalhadas por ano para os operários japoneses, dentre os países desenvolvidos.
Em contrapartida, o longo período de prosperidade da economia do Japão permitiu uma taxa muito baixa de desemprego (menos de 2% da população economicamente ativa) e induziu à elevação dos salários reais, hoje próximos do nível salarial norte-americano, mas distante do alemão.
A organização japonesa do trabalho e a tecnologia informacional não suprimem a obrigação de movimentos repetitivos, aos quais grande parte dos operários continua submetida. Tais movimentos originam a LER – lesão por esforço repetitivo, enfermidade neuro-muscular primeiro caracterizada na circunstância nipônica. Morbidades neurológicas e psiquiátricas e doenças letais provocadas pelo estresse e pela estafa (karochi) são também típicas do sistema de produção (Lima & Araújo, 1996; Dedecca, 1996).
A submissão dos operários japoneses a semelhante sistema tem explicação histórica, a qual remonta aos anos imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial, quando os sindicatos ressurgiram com vigor. Apoiado pelo ocupante norte-americano, já empenhado na Guerra Fria, o patronato nipônico conseguiu infligir derrota esmagadora aos operários e impor o sistema de sindicatos por empresa, vigente até hoje. Os sindicatos por empresa tornaram-se colaboradores da administração e facilitaram o desenvolvimento e implantação da organização do trabalho também chamada de produção enxuta ou produção flexível. Certos autores consideram tal enquadramento sindical como parte indissociável da organização japonesa do trabalho. Argumento fortalecido pelo fato de as empresas automobilísticas japonesas transplantadas aos Estados Unidos escolherem cuidadosamente sua localização em cidades desprovidas de sindicatos (Dohse et al., apud Micheli Thirión, 1994; Coriat, 1994; Babson, 1995; Humphrey, 1995).
Não cabe inferir daí que a colaboração empresa-sindicato logrou a aceitação consensual dos trabalhadores no referente a diversos aspectos da sua condição laboral. Pesquisa promovida junto a operários da principal fábrica montadora nipônica, em 1990, evidenciou alto grau de insatisfação: metade dos entrevistados respondeu que não recomendaria aos filhos o emprego na indústria automobilística, mencionando como circunstâncias mais negativas os salários inadequados, a exigência excessiva de horas extras e a demasia na intensidade e na carga de trabalho (Totsuka, 1995).
A organização japonesa do trabalho representa um dos elementos concretos do processo de globalização capitalista. Qualquer que seja a apreciação que dela se faça, em especial com relação ao fordismo, está fora de dúvida a constatação de sua difusão em países numerosos e variados pelo nível de desenvolvimento econômico. Todavia, é indispensável observar que semelhante difusão não se dá sem adaptações pronunciadas, conforme o meio em que ocorre. Não cabe registrar a reprodução do modelo exclusivamente em face de casos que manifestam pureza absoluta ou em alto grau. A fusão de elementos heterogêneos ou a miscigenação de sistemas diferentes constitui o fenômeno mais comum (Humphrey, 1993).
Em primeiro lugar, mesmo no setor automobilístico do próprio Japão, não se verificou a adoção unânime do toyotismo fora da empresa que lhe emprestou a denominação. Concorrentes da Toyota, como a Nissan, mostraram-se refratárias aos seus métodos, preferindo estratégias diferentes com ênfase na tecnologia de vanguarda. Em segundo lugar, as próprias fábricas que adotaram o sistema, atenuaram notavelmente vários dos seus elementos em face da recessão cíclica que castigou a indústria japonesa de 1991 a 1995.
A recessão forçou as empresas japonesas a cortar horas extras e a reduzir a contratação de empregados temporários, bem como a remanejar e reduzir os postos de trabalho vitalícios. Ao mesmo tempo, obrigou-as a diminuir o leque de modelos diversificados, estreitando o espaço concedido às economias de escopo em favor das economias de escala. Dilatou-se também o prazo para lançamento de novos modelos de carros, contrariando a tendência anterior no sentido da sucessão abreviada de modelos. Finalmente, o recurso ao JIT foi consideravelmente contido, em face dos problemas logísticos provocados pelos fornecimentos muito freqüentes, particularmente com referência a gargalos de tráfego. Em geral, as montadoras promoveram o enxugamento do pessoal (downsizing) e demonstram maior cautela com investimentos comprometedores em tecnologia (Posthuma, 1995; Fleury & Leme Fleury, 1995).
Nos Estados Unidos, os efeitos da concorrência dos carros japoneses induziram os três grandes fabricantes norte-americanos a apressar a introdução dos métodos do rival em suas próprias plantas. O impacto da descoberta desses métodos convenceu-os a buscar alguma associação com empresas nipônicas, inclusive tendo em mira a aprendizagem das inovações organizacionais. A General Motors se associou à Toyota numa joint-venture, administrando ambas, conjuntamente, a fábrica NUMMI, instalada em Fremont, California. A Ford tem participação acionária na Mazda e a Chrysler, na Mitsubishi (Womack et al., 1992; Cohen, 1993)
Todavia, a transferência dos métodos japoneses aos Estados Unidos, seja nas fábricas de propriedade nipônica (Toyota, Nissan e Honda), seja nas joint-ventures, não se fez sem conflitos e sem necessidade de adaptações. Apesar de enfraquecido pelas receassões dos anos 80 e 90 e pelo desemprego conseqüente à prática dodownsizing, o movimento sindical norte-americano tem sido particularmente crítico e ativo no enfrentamento dos efeitos negativos provocados pela organização japonesa. A UAW (Union of Auto Workers), tradicionalmente um dos sindicatos mais fortes dos Estados Unidos, conserva grande parte de sua influência entre os empregados do setor automobilístico. Uma das manifestações dessa influência está na ocorrência de várias greves, como a de março de 1996 que paralisou quase totalmente a General Motors durante 18 dias, atingindo proporções não registradas desde 1970 (Gazeta Mercantil, 22-3-1996).
A indústria européia começou a introduzir os métodos japoneses posteriormente aos Estados Unidos, mas a concorrência dos carros asiáticos (do Japão e da Coréia) suscitou receptividade às inovações, ainda que com ressalvas. Embora aprovasse com entusiasmo as descobertas organizacionais de Ohno, Coriat advertia a respeito das condições diferentes criadas pela tradição social-democrata na Europa, nas quais não seria possível reproduzir o espírito gerencial dos sindicatos de trabalhadores japoneses estruturados por empresas. Sindicatos cujo número, acrescente-se, chega a cerca de 75 mil, indicando uma pulverização sumamente prejudicial aos trabalhadores.
A advertência de Coriat evidencia-se bastante apropriada no referente à indústria automobilística da Alemanha. Esta prosperou na década de 80, tendo mesmo, ao contrário do que sucedeu em outros países, aumentado o número de empregos. A prosperidade devia-se, em parte, às exportações dirigidas ao mercado norte-americano. Quando as exportações se retraíram em face da concorrência dos carros japoneses e dos efeitos da recessão nos Estados Unidos, as empresas alemãs precisaram reconsiderar alguns aspectos do que seria o modelo germânico, o qual conseguiu superar o fordismo baseando-se na tecnologia de mais alto nível, no emprego predominante de operários qualificados e em mecanismos de co-determinação entre administração e empregados. Tais aspectos essenciais estão sendo mantidos, mas atenção especial passou a ser dedicada à formação de equipes de trabalho e aos cuidados com a qualidade. Ao mesmo tempo, aumentou o processo de terceirização, à medida que se transferem a outras empresas tarefas antes executadas no âmbito das montadoras. A jornada de trabalho flexível difunde-se, permitindo variações que evitam a necessidade de demissões. Ao assumir o compromisso de não efetuar demissões, a Volkswagen aceitou reduzir a jornada de trabalho a 30 horas semanais em troca de 10% na redução dos salários. De modo geral, o modelo alemão tem evidenciado capacidade de resistência, enquanto adapta elementos da organização japonesa à sua própria forma organizacional. Todavia, a ofensiva patronal prossegue com a reclamação insistente de novos cortes dos benefícios sociais (Jürgens, 1995, 1996).
O interesse de empresas instaladas no Brasil – de capital nacional e estrangeiro – pelos métodos japoneses remonta à década de 80, mas, por certo tempo, suscitou aplicações superficiais. Os CCQ multiplicaram-se, porém, desprendidos de equipes de trabalho funcionais, não poderiam produzir resultados promissores. O JIT encontrou adeptos, sobretudo por ser utilizado com o objetivo imediatista de adiar pagamentos e transferir aos fornecedores os encargos financeiros incidentes sobre os estoques.
O que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi, todavia, o obstáculo representado pela tradição simultaneamente despótica (mandonista) e paternalista das administrações empresariais brasileiras. A delegação de maior responsabilidade aos trabalhadores e a confiança na sua capacidade de resolver problemas ocorrentes no chão da fábrica não pareciam se coadunar com esse estilo gerencial. As inovações tecnológicas eram vistas por certos gerentes sobretudo como métodos que facilitavam o controle dos operários. De qualquer maneira, as condições econômicas dos anos 80 não favoreciam senão um processo atrasado e lento de introdução da nova tecnologia informática. Operando em regime de mercado protegido, dentro das normas rígidas do modelo de substituição de importações, as empresas brasileiras tinham pouco incentivo para modificar o processo de produção e inovar com relação ao seus produtos. A espiral inflacionária induzia a formação de estoques e desaconselhava a adoção do JIT (Carvalho, 1987 e 1993; Carvalho & Schmitz, 1990; Ferro, 1990, 1993; Silva, 1991; Posthuma, 1993; Humphrey, 1993; Castro, 1993; Salerno, 1993; Ruas et al., 1993; Tauíle et al., 1994; Coutinho & Ferraz, 1994; Fleury, 1994; Holanda Filho, 1994; Leme Fleury, 1995).
A abertura do mercado, no começo dos anos 90, colocou as empresas brasileiras em xeque, diante da concorrência dos produtos estrangeiros. Tornou-se imperativo e urgente inovar com vistas ao incremento da produtividade. Nas novas circunstâncias, a organização japonesa do trabalho passou a ser levada a sério.
O JIT encontrou, desde então, aplicação aproximada do formato japonês, verificável particularmente na indústria automobilística. Processou-se maior horizontalização da produção, na medida em que certas tarefas eram transferidas das montadoras às fábricas de autopeças e empresas produtoras de determinados serviços ou insumos. Começou-se a hierarquizar os fornecedores, uma vez que só parte deles teria a condição da relação direta com a fábrica terminal. Destes fornecedores de primeiro escalão se exige que ofereçam sistemas completos do autoveículo (motor, caixa de câmbio, transmissão, freios, painel, chapas estampadas etc.). Com taissistemistas relacionam-se os subsistemistas, fornecedores de segundo nível, de terceiro e assim por diante, relacionados com fornecedores de nível superior. A hierarquia ainda não chegou à perfeição, mas tudo indica que caminha no sentido da redução drástica do número de fornecedores diretos e de complexidade cada vez maior da cadeia produtiva de peças e componentes.
Dentre inúmeros exemplos confirmadores das práticas apontadas, pode ser citado o contrato estabelecido entre a Renner e a Ford, incumbindo a primeira não mais de fornecer tintas, porém de pintar os carros dentro da instalação da montadora. Em Minas Gerais, a Usiminas passou a fornecer à Fiat chapas estampadas e não mais chapas virgens. Demais disso, a montadora favorece a mineirização dos fornecedores, procurando aumentar o número daqueles instalados nas cercanias de sua fábrica terminal em Betim.
Pode-se afirmar que o ápice da tendência à terceirização e à sintonia fina do JIT se verifica na nova fábrica de caminhões e ônibus em construção em Resende, pela Volkswagen, projetada para ser uma unidade cem por cento modular: nela, a montadora fará tão-somente a supervisão da montagem final, inteiramente entregue a setesistemistas já escolhidos. Se bem-sucedido o projeto, tratar-se-á de inovação em âmbito mundial, indicando a possibilidade não tão remota de as montadoras se converterem em simples donas da griffe e se incumbirem não mais do que do design, do marketing e das operações financeiras, ficando a montagem propriamente dita entregue aos fornecedores principais (Autodata, 48, 65, 74, 75; Sindicato dos Metalúrgicos de Betim).
Dentro das fábricas, a formação das equipes de trabalho (com variadas denominações) implica a sua integração com operários polivalentes, capazes de encarregar-se, em rotação, de várias funções e máquinas ao mesmo tempo. A formação das equipes de trabalho realizou-se em concomitância com a introdução de robôs, de máquinas-ferramenta de controle numérico computadorizado (MFCNC), do controle estatístico de processo e de outros dispositivos direcionados à elevação qualitativa da produção. Em conseqüência, aumentou a demanda de operários mais instruídos e qualificados. Da exigência de instrução de primeiro grau completo deve-se passar à exigência generalizada de segundo grau também completo, o que, por enquanto, é inviável no Brasil.
Além da demanda de operários com qualificação formal superior, as empresas aumentaram o empenho no treinamento feito internamente. Uma vez que o treinamento representa um custo, um investimento no operário que o recebe, compreende-se que haja interesse em conservá-lo no quadro dos empregados. Daí uma das razões para a diminuição da rotatividade dos trabalhadores no emprego. Outra razão, não menos significativa, reside no revigoramento dos sindicatos de trabalhadores em seguida à cessação do regime de arbítrio antioperário vigente durante os governos militares (Marques, 1987; Le Ven, 1992; Bresciani, 1993; Castro, 1993; Schutte, 1993; Fleury, 1994; Humphrey, 1995; Posthuma, 1995; Fleury & Leme Fleury, 1995; Leite et al., 1995; Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC et al., entrevistas).
Nas novas condições da concorrência, as empresas interessam-se por acordos sindicais que estabeleçam o dispositivo da jornada flexível, o qual ajusta a duração do dia de trabalho – dentro dos limites mínimo e máximo acordados – às necessidades momentâneas da produção, registrando num banco de horas os saldos que deverão ser compensados pela empresa ou pelos empregados. A jornada flexível, já adotada na Volskswagen e na Ford, permite reduzir ou eliminar as horas extras (dispensando, portanto, o pagamento adicional pela empresa), ao tempo em que afasta ou atenua a ameaça de demissões para os operários (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; Acordo coletivo Volkswagen/Metalúrgicos do ABC, 1996).
A formação e o funcionamento das comissões de fábrica nas montadoras de São Bernardo do Campo (Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz e Scania) trazem indícios de um fortalecimento da base sindical e da possibilidade de maior sintonia das intervenções dos operários na luta por suas reivindicações (Arbix, 1996).
No quadro de referência da globalização, as relações de trabalho sofrem de instabilidade acentuada. A introdução da organização japonesa tem permitido a imposição pelas empresas da intensificação do trabalho, potenciada pelo alto grau de desemprego e pelo acirramento da concorrência. Sujeita a oscilações, a tendência imperante se dá no sentido de novos conflitos ou do aguçamento de antigos conflitos entre empresas e trabalhadores (Arbix, 1996).
Com sua base material na revolução informacional (também chamada de terceira revolução tecnológica), o processo de globalização trouxe profundas alterações no âmbito da produção, nas relações de trabalho, no comércio nacional e internacional, nas finanças, na esfera política e em inúmeros aspectos da vida social (Schaff; 1993; Lojkine, 1990, 1995).
As novas tecnologias de computação e de telecomunicação permitem que os produtos sejam resultado de operações efetivadas em diferentes países e mesmo continentes, vinculadas em tempo real. Tal possibilidade incrementou a capacidade de expansão das empresas multinacionais (EMs), dando-lhes agilidade a fim de localizar suas operações nos pontos mais vantajosos sob os aspectos de custo e de mercado.
Ao mesmo tempo, as novas tecnologias influíram no sentido da simplificação das operações de fabricação e da complexificação de pesquisa e desenvolvimento (P&D), por conseguinte, da complexificação do design e domarketing, da atividade com vistas às inovações de processo e de produto. Daí que o valor adicionado por P&D tenha aumentado enormemente com relação ao valor adicionado pela fabricação. Nisso se expressa a conversão sempre mais avançada da ciência em força produtiva, em trabalho que cria valor.
Como é sabido, muitas operações de P&D podem ser externalizadas sob a forma de serviços contratados com terceiros, ou seja, podem ser terceirizadas ou subcontratadas, o que barateia seu custo para a empresa contratante. Somado a outros fenômenos, tal fato veio reforçar a idéia corrente de que saímos da sociedade industrial para a sociedade de serviços, ou de que hoje teria vigência a economia pós-industrial.
Idéia que recebeu contestação fundamentada de Castells (1993), observando que a categoria serviços vem sendo empregada como categoria residual, na qual cabe quase tudo: desde a operação de um computador ao trabalho corriqueiro de faxina. Cohen (1993), por sua vez, salienta que muitos serviços de alta tecnologia são extensões ou complementos da atividade industrial. No entanto, erroneamente, a estatística convencional os distingue e separa. Na verdade, o setor de serviços depende da indústria. Serve a ela. Quanto mais desenvolvida uma indústria, mais requer serviços, como design e marketing. Assim o que temos à frente não é uma economia pós-industrial, mas um novo tipo de economia industrial ou, como prefere Castells, uma economia informacional.
Se a globalização se faz sentir fortemente no âmbito da produção material, bem maiores são seus efeitos no referente ao mercado financeiro. Aqui, não somente é possível operar 24 horas por dia, unindo os antípodas em tempo real. Uma vez que se trata de valores simbólicos, que independem de transporte material (como os bens fabricados), as aplicações financeiras se transferem com velocidade instantânea. Por conseguinte, a revolução tecnológica nas telecomunicações e nas operações ultra-rápidas de informação e cálculo potenciou o setor de finanças mais do que qualquer outro. A esse fenômeno agrega-se o acúmulo de somas colossais derivadas da poupança e colocadas à disposição de fundos de pensão, de fundos mútuos de investimento e de companhias de seguro. Dentro das regras do jogo do sistema capitalista, o resultado não poderia ser senão o da supremacia adquirida pelas finanças através dos bancos e de instituições não-bancárias.
A essa altura, é oportuna a constatação feita por Chesnais (1996), baseado em soberbo estudo teórico e empírico, a respeito das novas formas de fusão do capital industrial e do capital financeiro. Atualmente, o rendimento de operações financeiras é maior do que o rendimento da atividade industrial, no caso de EMs tradicionalmente dedicadas à produção industrial. A supremacia do capital financeiro foi conquistada e se exerce não em detrimento, mas em associação com os interesses das EMs do setor industrial. Acrescente-se que tal supremacia tem sido fomentada e protegida pelos Estados dos países mais poderosos. Cabe aqui assinalar também a tese de Arrighi (1996) a respeito de que chegamos ao final de mais um ciclo histórico do capitalismo, o qual, como os anteriores, culmina exatamente na predominância do capital financeiro (Michalet, 1981).
O processo de globalização e a revolução tecnológica provocaram alterações de grande envergadura nas condições em que atuam as organizações empresariais.
O fordismo originou plantas de dimensões enormes, uma vez que deu prioridade absoluta à economia de escala e estimulou a verticalização. Já os recursos técnicos mais modernos favorecem a produção enxuta, a economia de escopo, a produção diversificada em pequenos lotes, a terceirização ou subcontratação. Dessa maneira, formaram-se as empresas-rede, com conformação variada e flexível, que vincula a empresa dona do design e dagriffe a inúmeras outras, executantes das mais diversas operações fabris. A vinculação se faz e desfaz de acordo com a conveniência da empresa detentora da griffe (Reich, 1994; Thurow, 1996).
A produção enxuta e informatizada também abriu caminho ao florescimento de empresas médias e pequenas. A significação de semelhante florescimento ganhou destaque com a obra muito citada de Piore & Sabel (1984). Avançou, assim, a idéia de que a grande empresa estaria fadada a desaparecer ou a ceder parte considerável do seu espaço às empresas médias e pequenas. As recessões dos anos 80 e 90 mostraram o quanto estas últimas são vulneráveis, o quanto sua existência é precária. Com a exceção óbvia daquelas que conseguiram se salvar porque ascenderam à condição de empresas grandes ou muito grandes (caso exemplar da Microsoft). A evolução econômica evidenciou igualmente que as grandes empresas detêm recursos críticos no que se refere à pesquisa tecnológica e à consecução de inovações de maior alcance. A par disso, são as grandes empresas aquelas capacitadas a tirar proveito das economias de escala, cuja significação tem sido equivocadamente subestimada. Ajustadas às economias de escopo no patamar do produto, as economias de escala continuam a ter peso decisivo no patamar de cada planta e do conjunto da firma. Por fim, à grande empresa convém transferir operações às empresas médias e pequenas nas fases de boom, enquanto, nas fases depressivas, tem condições de remanejamento entre suas plantas (sobretudo se se trata de EMs) ou simplesmente de fazer refluir para seu interior as operações antes terceirizadas, deixando em má situação as empresas médias e pequenas (Piore & Sabel, 1984; Carnoy, 1993; Micheli Thirión, 1994; Dedecca, 1996).
Do exposto, conclui-se que as empresas grandes e pequenas continuarão a ocupar um espaço econômico, porque as características tecnológicas atuais estimulam sua formação, mas também porque, em maior ou menor grau, conforme a conjuntura, sua existência interessa às grandes empresas. Essa inferência é compatível com uma conclusão mais geral: a desconcentração e descentralização das operações produtivas associam-se à concentração e centralização da propriedade e do poder de decisão. O movimento dos capitais se dá no sentido do incremento do grau de oligopólio e não de sua diminuição (Chesnais, 1996).
A força adquirida pelas EMs, em especial pelo capital financeiro (bancário e não-bancário), nas condições da globalização, deu margem à idéia de que, mais do que multinacionais, já seriam empresas transnacionais. Se tomado na acepção de ausência de base e dependência nacional, o termo é inaplicável às EMs existentes, ao contrário do suposto pelo apoliticismo e pelo economicismo extremo que o estudo do assunto tem propiciado (numa curiosa apropriação pelos antimarxistas de defeitos habitualmente atribuídos aos marxistas).
As EMs não se desgarram dos Estados nacionais nos quais têm origem e sofrem as contingências das economias nacionais desses Estados. Não se trata só da questão de organicidade histórica, mas do fato concreto, palpável e, não raro brutal, de que as EMs precisam do seu Estado nacional para se legitimar e para contar com abrigo político e salvaguardas jurídicas na atividade no mercado interno e no mercado mundial. As EMs constituem uma questão de política internacional para todo Estado nacional onde tenham sua matriz (e certamente, não menos, porém de forma inversa, para os Estados onde estejam suas subsidiárias). Quando a matriz se situa em país dotado de amplo mercado interno, a EM tem nele suporte fundamental, um ponto de apoio da expansão globalizante. Este é o caso das EMs mais numerosas e fortes, as dos Estados Unidos, Japão e Alemanha – a tríade dominante na economia mundial. A atividade de P&D das EMs possui seus centros mais importantes nos Estados nacionais de origem, mesmo porque é neles que, em regra, estão disponíveis os melhores recursos em matéria de quadros científicos e de infra-estrutura. Por fim, são da competência exclusiva da matriz as decisões estratégicas, particularmente aquelas que envolvem investimentos vultosos, linhas de pesquisa que implicam custos consideráveis e inovações significativas de processo e de produto (Barnet & Müller, 1974; Hymer, 1982; Carnoy, 1993; Dieterich, 1996; Korten, 1996).
Somente o apoliticismo e o economicismo extremo explicam a afirmação superficial e repetida acerca da obsolescência do Estado nacional e da sua conversão numa ficção (Ianni, 1995; Ohmae, 1996). Decerto, os meios de intervenção dos Estados nacionais na atividade econômica não podem ser, nas condições atuais, exatamente os mesmos de períodos anteriores. A fixação das taxas de juros e de câmbio pelos bancos centrais está condicionada pelo movimento do capital financeiro especulativo e volátil. Não há dúvida de que algumas técnicas anticíclicas do keynesiasmo possuem, hoje, eficácia muito restrita ou nula, como observa Thurow. Mas isso não significa que todo o arsenal intervencionista do keynesianismo tenha sido ultrapassado. Verifica-se que a eficácia de medidas anticíclicas varia conforme o poderio do Estado que as aplica, o que, aliás, é admitido por Thurow. O dispêndio público dos Estados nacionais mais ricos permanece tão elevado que é admissível especular acerca do terremoto que se desencadearia nas suas economias e no mercado mundial se, seguindo o receituário neoliberal, cortassem tal dispêndio ao menos pela metade (Carnoy, 1993; Cohen, 1993; Reich, 1994; Thurow, 1996; Chesnais, 1996).
Os efeitos do processo de globalização sobre os Estados nacionais é agudamente desigual. Colocar todos no mesmo plano constitui erro teórico e histórico. Os Estados nacionais dos países desenvolvidos e mais ricos aumentaram seu poder de influência e intervenção sobre os Estados dos países ditos em desenvolvimento. Os Estados ricos e poderosos dispensam conquistas territoriais e intervenções militares, como em tão ampla escala ocorreu no período clássico do imperialismo (exceto atualmente em casos excepcionais, como o da Guerra do Golfo), porque lhes é suficiente a força financeira. Esta decide hoje o que, não há muito, decidiam os exércitos. Os países mais pobres, classificados por Castells como do Quarto Mundo, foram lançados à marginalização econômica e seus Estados nacionais vegetam em situação de quase impotência. Mas é equivocado generalizar tal constatação para todos os países em desenvolvimento e muito menos para o Brasil. Sem esmiuçar aqui tão importante questão, cumpre assinalar que, ao contrário do apregoado pela visão fatalista ou de apologia eufórica diante da globalização, os Estados nacionais de países em desenvolvimento continuam a dispor de recursos de implementação de políticas econômicas intervencionistas e dirigistas em grau variado. A recente história econômica do Japão e da Coréia do Sul fornece, sem dúvida, argumento contestatório suficiente aos supostos da ortodoxia econômica liberal (Castells, 1993; Carnoy, 1993; Canuto, 1994; Gorender, 1995; Fleury & Leme Fleury, 1995; Torres Filho, 1995).
Referência quase tão freqüente quanto a da globalização, o desemprego estrutural vincula-se a ela e decorre dela. A tal ponto que se proclama sua inevitabilidade tanto quanto a da própria globalização. A questão inscreve-se na ordem do dia de quase todos os países. Assemelha-se à Aids, enquanto epidemia econômica do final do século XX. Para o Brasil, trata-se de problema por demais relevante.
O último período do fordismo keynesiano, também o da sua culminância, distinguiu-se pelo objetivo do pleno emprego perseguido pelas políticas econômicas de grande número de governos. Inerente ao Estado do Bem-Estar Social, o objetivo do pleno emprego não chegou a ser alcançado completamente, senão em alguns países e em momentos muito favoráveis. Todavia, é inegável que os países ricos nunca estiveram tão próximos daquele objetivo quanto nas três primeiras décadas do segundo pós-guerra. Nem há outra razão explicativa do volumoso influxo imigratório procedente da periferia mundial em direção ao centro norte-americano e europeu-ocidental.
Se relacionarmos a revolução tecnológica informacional e a organização japonesa do trabalho à deflagração do desemprego estrutural a partir da década de 70, somos obrigados a constatar que precisamente o Japão pôde registrar taxas muito baixas de desemprego nos últimos 20 anos, justamente quando em sua economia tiveram mais profunda aplicação os novos métodos tecnológicos e organizacionais. Agora, porém, após quase quatro anos de severa recessão iniciada em 1991, a taxa oficial de desemprego do Japão atinge 3,5% da população economicamente ativa, devendo ser duas vezes maior, segundo aferição mais realista. Ainda assim, continua significativamente mais baixa do que a dos outros países capitalistas desenvolvidos, os quais, com pouquíssimas exceções, viram suas taxas de desemprego triplicar e até aumentar mais do que isto, na transição do fordismo à produção flexível e à automação eletrônica.
Considerando o êxito da economia japonesa e a dimensão por ela adquirida (segunda economia do mundo, bastante próxima da norte-americana), infere-se que o ascenso japonês não se daria sem o declínio relativo dos seus concorrentes e simultaneamente parceiros na economia globalizada. Inferência lógica e, também não menos, historicamente concreta. Por si mesma, a economia globalizada impede, a longo prazo, o ascenso de todos ao mesmo tempo. Sua lógica inexorável é a da desigualdade, dos perdedores como contrapartida incontornável dos vencedores. Afinal, a retórica da competitividade não diz coisa diferente, embora acene com um final feliz para todos os participantes do jogo. O que se indaga é se tal curso pode ser revertido, se a espontaneidade da globalização pode ser submetida a determinado controle eficiente, sem que se percam as conquistas positivas que vieram com ela. Em outras palavras, sem que se pense regredir a situações superadas.
A fim de esclarecer a questão do desemprego estrutural, é necessário definir suas causas, bem como, aproximadamente, a hierarquia da influência delas. Não há razão para duvidar que a tecnologia informacional e a organização do trabalho conforme a produção enxuta são causas do desemprego estrutural. Difícil é estabelecer o quanto cabe a cada qual desses fatores. A introdução de dispositivos informatizados (robôs, MFCMC, microprocessadores etc.) elimina postos de trabalho, porém é duvidoso que o faça em maior proporção do que a reengenharia, o enxugamento, a reestruturação organizacional. O fato é que seja por via da automação eletrônica, seja por via da remodelação do layout organizativo da empresa, os empregos somem aos milhares e aos milhões, enquanto aumenta a carga de trabalho sobre aqueles que continuam empregados.
Algumas indicações permitem concluir que, ao menos nos países mais desenvolvidos, certas empresas se excederam na introdução de inovações de automação dispensadoras de trabalho vivo. A equipe do International Motor Vehicle Program, do MIT norte-americano, a mesma que realizou a pesquisa registrada no livro A máquina que mudou o mundo, vem de reconhecer que a montagem automatizada na indústria automobilística tem sido muito cara e sua operação sujeita a interrupções demasiado freqüentes, além de limitar, mais do que os processos manuais, o mix da produção. Reforça-se, por isso, segundo os pesquisadores, a orientação de dar apoio ao operário no chão da fábrica, ao invés de simplesmente substituí-lo pela máquina. Semelhante constatação reforça a argumentação de Lojkine (1995) acerca da presença indispensável do operador humano junto ao sistema de máquinas, por mais avançada que seja a automação eletrônica. Esta, certamente, dará novos saltos no futuro, mas deverá incorporar a experiência acerca dos seus limites e da presença indispensável do operador humano (MIT , 1996).
Contudo, é indispensável salientar incisivamente ainda outra causa provocadora do desemprego estrutural, a respeito da qual Chesnais e Altvater chamaram a atenção: a política deflacionária sistemática imperante nos países desenvolvidos do sistema capitalista e por eles imposta aos países em desenvolvimento. O objetivo governamental do pleno emprego cedeu prioridade ao combate à inflação, vista como o pior dos males. Os meios de intervenção fiscal, monetária e cambial são acionados incessantemente com vistas a garantir a deflação compressora, particularmente vantajosa ao capital financeiro. A política deflacionária responde pela queda das taxas de crescimento do PIB desde a década de 70, o que se verifica em todas as regiões do planeta, com exceção do Extremo Oriente. Afinal, a revolução tecnológica possibilita gigantesco aumento da produtividade e da produção, enquanto as necessidades humanas reclamam muito maior quantidade de bens e serviços do que aquela atualmente disponível. Se o potencial produtivo tem sido utilizado de maneira demasiadamente restrita e as taxas de crescimento são medíocres, tais fatos só podem ser explicados como efeito de uma política deliberada, da qual resulta, em conseqüência, o alastramento do desemprego estrutural.
O grave, na questão, consiste em reconhecer-se que, sem elevação significativa da taxa de crescimento da produção, não será possível fazer refluir o desemprego estrutural. Associadas à elevação da taxa de crescimento, outras medidas – dentre as quais, em primeiro lugar, a redução da jornada de trabalho – poderão equacionar e solucionar, ao menos parcialmente, o problema do desemprego estrutural. Sem dúvida, nos limites da conjuntura histórica atual.
Muito mais complicado é prever tendências para além das conjunturais. Vem a propósito uma reflexão sobre a história econômica dos dois últimos séculos. Dessa história infere-se que o crescimento da economia capitalista mundial nos 30 anos gloriosos, logo após o segundo pós-guerra, representou ocorrência completamente excepcional. Considerando-se períodos semelhantes de 30 anos, o normal tem sido o crescimento anual médio de 2% ou 2,5%, ou seja, precisamente como vem ocorrendo nos 20 anos recentes. Se essa tendência de baixo crescimento for extrapolada para o futuro, então o problema do desemprego estrutural não terá solução radical. Uma vez insolúvel, o problema assumirá proporções colossais, muito maiores do que apresenta nos dias de hoje. A realidade será a da sociedade cindida, da sociedade seccionada prefigurada por Reich. Os homens e mulheres, que precisam viver do trabalho, se defrontarão com um futuro ainda mais sombrio do que o presente (Lojkine, 1990, 1995; Lipietz, 1991; Brunhoff, 1991; Gorz, 1992; Aznar, 1993; Harvey, 1994; Leite, 1994; Mattoso, 1995; Alvater, 1995; Antunes, 1995; Katz et al., 1995; Thurow; 1996; Chesnais, 1996; Dieterich, 1996; IMVP-MIT; 1996).
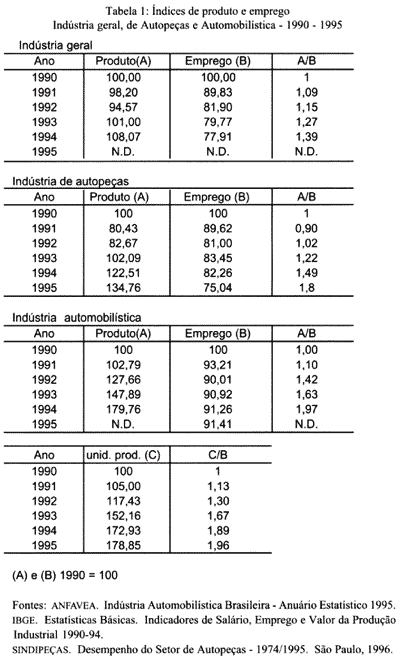
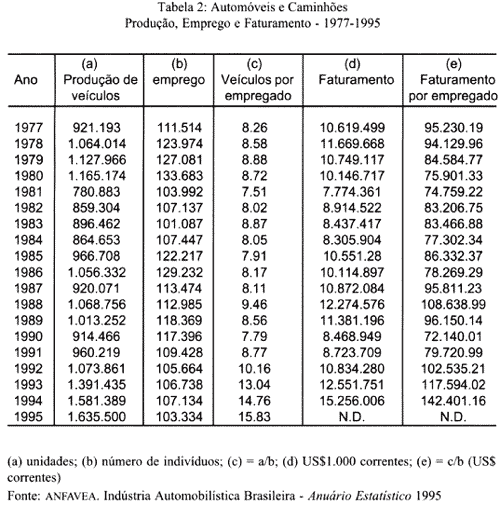
As tendências inerentes à globalização e à revolução tecnológica, atuantes no cenário mundial, fazem-se sentir no Brasil. Aqui, no entanto, como não poderia deixar de ser, assumem características peculiares. Alguns pontos mais importantes carecem de debate e esclarecimento.
A transição da política de substituição de importações à política de abertura econômica trouxe à tona a avaliação depreciativa da orientação dominante até o início dos anos 90. A orientação substitutiva de importações costuma ser contrastada com a aquela que confere prioridade ao esforço exportador. Compara-se o encalhe em que caiu a economia brasileira – bem como a economia de outros países que recorreram, mais ou menos sistematicamente, à substituição de importações – com o sucesso agressivo dos tigres asiáticos
A polêmica ficará deslocada e esterilizar-se-á se não levar em conta que os dois modelos – o da substituição de importações e o do esforço exportador (export drive) – raramente aparecem enquanto modelos puros. Conforme observa Castells, a Coréia do Sul, tão citada pelo sucesso exportador, também aplicou a política de reserva do mercado interno e de substituição de importações. Cohen destaca o fato de que, sem uma política firmemente protecionista, a indústria automobilística japonesa, partindo de posição quase zero, não chegaria à de concorrente ameaçador da indústria norte-americana (Piragibe, 1988; Castells, 1993; Cohen, 1993; Canuto, 1994).
Vem a propósito recordar que a política de substituição de importações possibilitou à economia brasileira alcançar o patamar da segunda revolução industrial e formar um sistema industrial integrado e dotado das ramificações básicas. Quando isso se concretizou, no final da década de 70, a economia brasileira não conseguiu dar o salto em direção à terceira revolução industrial – a revolução informacional – e continuou amarrada à política de substituição de importações, já quase esgotada. O mercado fechado incentivou uma espécie de modorra tecnológica.
Todavia, a explicação será inconvincente se não se recordar também que no início dos anos 80 a economia brasileira sofreu o impacto explosivo do agigantamento da dívida externa e se viu submetida à compressão das importações a fim de criar excedentes de divisas. Em conseqüência, regrediu a taxa de acumulação de capital entre as décadas dos 70 e 80 (de 24% a 16% da formação bruta de capital fixo). O Brasil caiu na situação de outros países que, na definição de Altvater, praticaram a "industrialização endividada". Por fim, é admissível argumentar com a incapacidade do empresariado brasileiro para aproveitar a reserva do mercado de informática no sentido de criação da indústria de computação com envergadura internacional, enfrentando, neste campo, as pressões das EMs dos Estados Unidos. A informatização da economia brasileira ressentiu-se deste retardo (Tauíle, 1988; Schmitz & Carvalho, 1988; Alvater, 1995; Vigevani, 1995).
A abertura do mercado no início da década de 90 colocou a indústria instalada no Brasil – de capital nacional e estrangeiro – diante de novos desafios. Exposta à concorrência internacional, a indústria brasileira entrou em processo de modernização, com ênfase na informatização e no enxugamento organizacional. Tal processo, denominado de reestruturação produtiva, se fez sentir na taxa de desemprego ascendente. A política deflacionária do Plano Real acentuou o desemprego estrutural, atualmente à altura de 16% da população economicamente ativa, segundo o Dieese, na Grande São Paulo. Estudo feito nos quadros do IPEA mostra que, nacionalmente, de 1987 a 1994, somente o setor industrial extinguiu um milhão de empregos. Em 1995, sob a vigência do Plano Real, perderam-se 390 mil postos de trabalho na indústria brasileira. Outros efeitos fizeram-se sentir no meio operário, seja sob o aspecto das relações de trabalho dentro das empresas, seja sob o aspecto da representação sindical dos trabalhadores (Comin et al., 1994; Bresciani, 1994; Dieese, 1994; Mattoso, 1995; Antunes, 1995; Folha de S. Paulo, 7-8-1996; Sindicatos de Metalúrgicos do ABC, de São Caetano do Sul, de São José dos Campos, de Campinas, de Taubaté e de Betim – entrevistas).
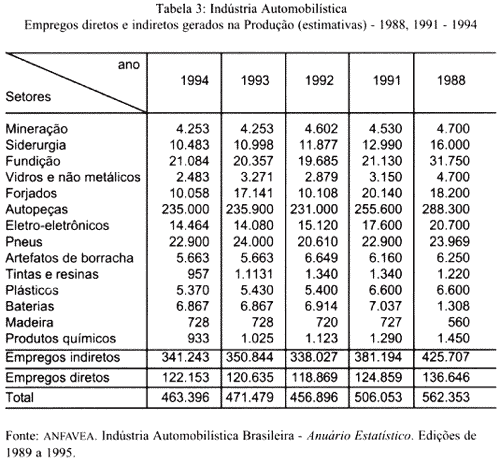
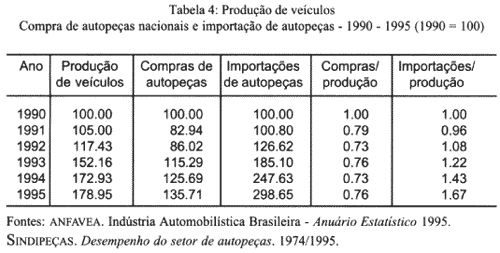
No ambiente econômico dos anos 90, globalização, inserção do Brasil na economia mundial e competitividade tornaram-se itens do topo da agenda empresarial. Estudos especializados procuraram situar o país no quadro internacional, examinando suas vantagens e fraquezas (Coutinho & Ferraz, 1994; Baumann, 1996).
A atenção concentrada na competitividade focalizou diversos fatores que a modulam. Alguns desses fatores suscitam reivindicações reiteradas do empresariado, como a da baixa da taxa de juros e da alteração da taxa cambial com vistas ao esforço exportador e à defesa da indústria instalada no Brasil. Uma vez que reivindicações deste gênero dependem da modificação da política econômica do governo federal, por enquanto infenso a aceitá-la, o empresariado focalizou outro fator que supostamente afetaria a competitividade: o custo do trabalho brasileiro, com ênfase nos encargos sociais. Os itens mencionados da agenda empresarial tornaram-se slogansretóricos, aos quais se acrescentou o termo flexibilização, aplicado de várias maneiras, inclusive com referência à legislação trabalhista, tendo em mira a redução do custo do trabalho. A polissemia do conceito de flexibilização já chegou a suscitar um estudo sobre os seus variados usos e significados na atividade econômica (Salerno, 1993).
Com relação especificamente ao custo do trabalho e sua influência na competitividade, Castells (1993) observa que pesquisas referentes ao último quarto de século concluíram não haver correlação entre custo do trabalho e competitividade econômica de determinado país. Esta seria determinada por quatro fatores: receptividade da estrutura econômica às inovações tecnológicas; proteção do mercado interno e acesso a outros mercados de dimensão ampla; diferencial entre o custo de produção in loco e o preço nos mercados de destino; política favorável do Estado nacional e de organismos internacionais.
Outras pesquisas feitas no Brasil confirmam a constatação de inexistência de correlação entre custo do trabalho e competitividade da economia nacional. Políticas de desvalorização cambial e de compressão do custo do trabalho resultam no que Fajnzylber chamou de competitividade espúria. A ela se opõe a competitividade sistêmica, realmente dotada de eficácia, abrangendo leque variado de fatores: monetário (taxas de câmbio e de juros), infra-estrutural (energia, transportes, comunicações etc.), regulatório (defesa do consumidor, proteção ambiental), político-institucional (impostos e tarifas), social (educação), entre outros (Coutinho & Ferraz, 1994; Mattoso, 1996; Santos & Pochmann, 1996).
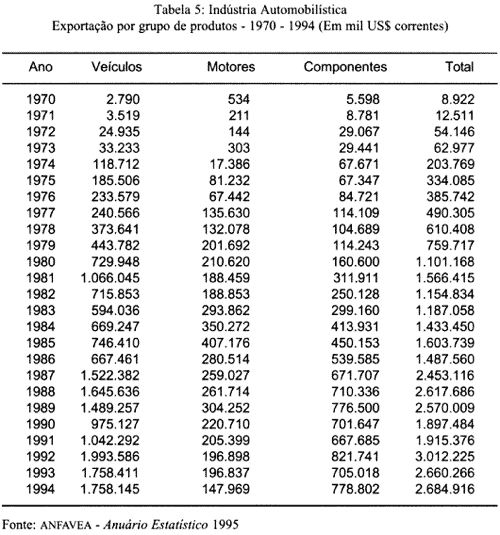
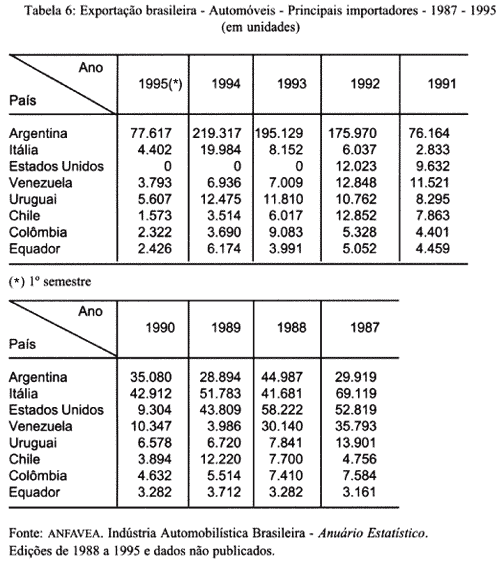
Assim, a questão do custo do trabalho, tal como foi colocada, revela-se uma falsa questão. Não é que o custo do trabalho seja indiferente no âmbito microeconômico, nem que possa ser arbitrário no âmbito macroeconômico. Considerados outros fatores influentes, as empresas optam pela força de trabalho de menor custo. Constitui erro lógico, porém, passar aí da microeconomia – que concerne à empresa – à macroeconomia, que concerne à competitividade das economias nacionais. No plano da macroeconomia, o que se argumenta é que o custo do trabalho tem peso menos relevante do que o de outros fatores, em particular os sistêmicos. Doutra maneira, não se compreenderia que as economias nacionais mais produtivas e competitivas sejam as de países com o custo mais alto da força de trabalho, como é o caso da Alemanha.
Bem observados tais apectos, evidencia-se que a questão veio a debate no quadro de uma ofensiva mundial do capital contra as conquistas dos trabalhadores neste século. Uma vez que se aguçou fortemente a concorrência no cenário mundial, acentuou-se freneticamente a busca de vantagens competitivas, o que leva as empresas a perseguirem com o máximo afinco o objetivo do barateamento da força de trabalho.
A esse respeito, o ponto mais sensível tem sido o dos encargos sociais, sujeitos a diversos critérios de avaliação, mas comumente considerados excessivos pelo patronato. Sem aqui esmiuçar o problema, cabe no entanto frisar que a força de trabalho brasileira é de baixo custo, se comparada com países de alto e médio desenvolvimento. Mesmo aplicando aos encargos sociais o critério da maior abrangência, o Banco Mundial (Bird) avaliou que sua redução seria inócua do ponto de vista do custo final do trabalho no Brasil (Oliveira & Mattoso, 1996; Fiocca, 1996; Gazeta Mercantil, 23-6-1996).
Em contrapartida, a proposta do movimento sindical de enfrentamento do problema do desemprego destaca a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais como medida imediata das mais importantes, ao lado da limitação legal das horas-extras e da eliminação do trabalho infantil, que hoje impõe condições de estafa a três milhões e meio de crianças e adolescentes. Enquanto a jornada semanal, por dispositivo da Constituição, é de 44 horas, os metalúrgicos de São Paulo já lograram, no setor automobilístico, a jornada de 42 horas, com previsão de redução de mais duas horas em 1997 (CUT, 1996).
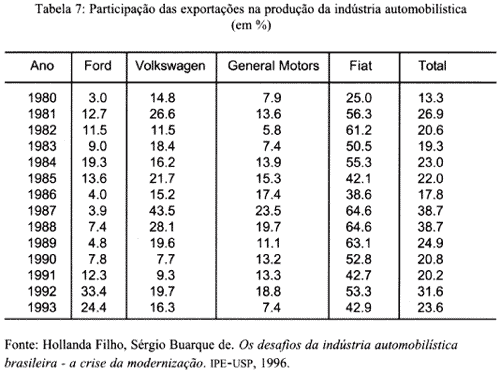
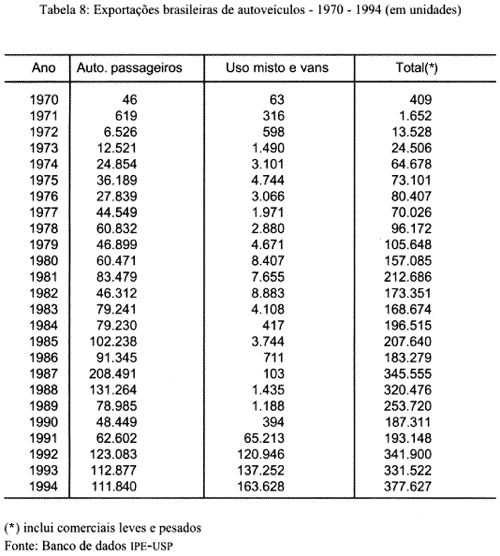
Nenhuma evidência existe de que o custo do trabalho brasileiro não seja suficientemente atrativo para as EMs aqui instaladas. o que se comprova precisamente por aquelas de maior peso atuantes no Brasil, ou seja, as da indústria automobilística, incluindo montadoras e fábricas de autopeças. Demonstra-o a expansão dos investimentos das empresas já instaladas no país e o anúncio de investimentos de montadoras que iniciarão sua produção no Brasil. Influem decisivamente neste movimento expansivo fatores como a amplitude do mercado interno brasileiro, a cessação do processo inflacionário galopante e as circunstâncias favoráveis abertas pela implementação dos acordos do Mercosul. Uma vez que se trata de EMs dentre as mais globalizadas, as montadoras seguem no Brasil tendências internacionais e as transmitem aos setores produtivos nacionais que mantêm com elas conexão.
No decorrer da década de 80, a indústria automobilística instalada no Brasil ficou estagnada em nível de produção sempre abaixo do quantitativo de 1.165 mil autoveículos produzidos em 1980. A estagnação não foi somente quantitativa. Também sob o aspecto qualitativo, a indústria brasileira distanciou-se dos padrões vigorantes no mercado internacional. Com base em estudos feitos no começo dos anos 90, não se poderia prefigurar com segurança uma perspectiva alentadora para o futuro do setor automobilístico brasileiro (Anfavea, 1988-95; Ferro, 1990, 1993; Posthuma, 1993; Tauíle et al., 1993, 1994).
A situação modificou-se radicalmente a partir de 1992, quando se celebrou, na respectiva câmara setorial, o acordo oficial entre representantes dos governos da União e do estado de São Paulo, das montadoras e fábricas de autopeças e dos trabalhadores do setor automobilístico – conhecido como Acordo das Montadoras. Inspirados em pacto similar adotado na Argentina em 1991, os acordos firmados em Brasília, em março e junho de 1992 e em fevereiro de 1993, determinaram a redução dos impostos incidentes sobre a produção de autoveículos, a redução da margem de lucros das empresas e a garantia de cessação de demissões de empregados, com manutenção dos salários vigentes. Sem pretender avaliar como cada uma das partes cumpriu o Acordo, mais de um ano depois da última reunião da câmara setorial, no primeiro semestre de 1995, o significativo, para os fins desta análise, consiste na observação de que, a partir da implementação do Acordo, a indústria automobilística pôde ultrapassar os anos de estagnação e ingressar em novo ciclo ascensional (Cardoso & Comin, 1993; Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 1995).
Partindo de 1.074 mil autoveículos em 1992, a produção brasileira atingiu 1.635 mil em 1995, com previsão de 1.800 mil, em 1996 (os totais incluem automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, excluindo máquinas automotrizes agrícolas). O avanço quantitativo foi acompanhado pela atualização qualitativa gradual dos modelos produzidos no Brasil. Porta-vozes das empresas anunciam a meta de 2,5 milhões de autoveículos no final do século, o que provavelmente daria à indústria brasileira economia de escala suficiente a fim de competir no segmento mais exigente do mercado internacional (Anfavea, Anuário 1995, Carta agosto/96; Gazeta Mercantil, 9-8-1996).
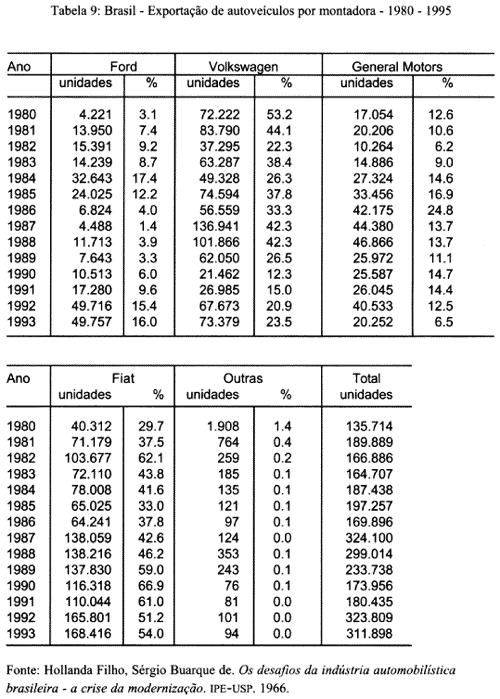
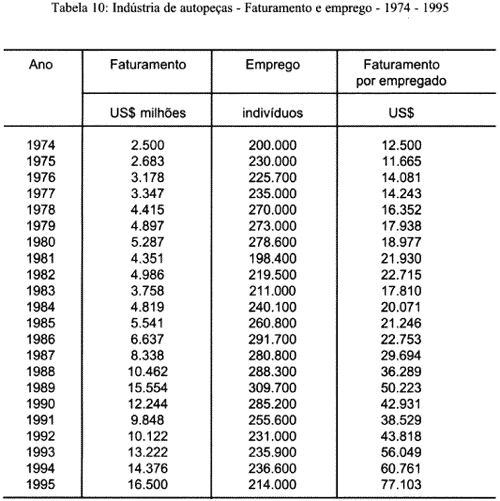
No que se refere às exportações de autoveículos, verifica-se que aumentou seu valor absoluto entre 1990 e 1994, quando passou de US$ 975 milhões para US$1.758 milhões. Já sob o aspecto relativo, as exportações caíram de 22,4% do total das vendas, em 1990, para 17,6%, em 1994. Tais dados confirmam a importância que o mercado interno readquiriu na estratégia das montadoras. Convém notar também que, a partir de 1991, em função da implementação do Mercosul, mais da metade das exportações passou a se dirigir para a Argentina (anexo estatístico).
A reversão da situação de estagnação teve efeito também sobre o mix de modelos produzidos no Brasil. Na década de 80, as montadoras deram preferência à produção de carros de preço mais elevado, com vistas à maior lucratividade por unidade de produto. Na fase atual de expansão, vem predominando o carro chamado popular, que tem representado cerca de 60% do total da produção.
A recente expansão da indústria automobilística coloca várias questões, dentre as quais avultam as que dizem respeito à queda do nível de emprego e ao conteúdo nacional de autopeças.
Desde que se implantou no país, a indústria automobilística se converteu na mais importante empregadora na indústria de transformação. Com o incremento da automação e da reestruturação organizacional, como se dá desde há poucos anos, a passagem do regime fordista para o da produção enxuta provocou a inversão da tendência. Ao contrário do que acontecia antes, o aumento da produção é acompanhado pela queda do emprego.
No referente às montadoras, o emprego total caiu de 117 mil, em 1990, para 103 mil, em 1995. No mesmo período, a produção de autoveículos subiu de 920 mil unidades para 1.635 mil. Assim, o emprego diminuiu em cerca de 9% , enquanto a produção física aumentou em 79%. A produtividade por empregado aumentou em 96%. Evidentemente, com relação à produtividade, é preciso fazer o desconto da redução da capacidade ociosa, com ganhos de economia de escala, e da acentuação da terceirização ou da desverticalização, que desonerou as montadoras – enquanto fábricas terminais – de tarefas antes cumpridas no seu interior. Mas o fato de o movimento dos índices ser similar no setor de autopeças confirma aproximadamente os resultados (Anfavea, 1988-95; anexo estatístico).
No que concerne às empresas produtoras de autopeças, o emprego total caiu de 280 mil, em 1990, para 214 mil, em 1995. Em período igual, o faturamento subiu de US$ 12,3 bilhões para US$ 16,5 bilhões, resultando na queda de 30% no emprego, em contraste com o aumento de 35% na produção. Em termos de produtividade por empregado, houve aumento de 80%.
De 1990 a 1994, enquanto as exportações de autopeças cresceram de US$ 2.127 milhões para US$ 2.986 milhões, as importações subiram de US$ 837 milhões para US$ 2.073 milhões. No período, as exportações aumentaram em 40%, contrastando com o aumento de 47% das importações (Sindipeças, 1996; anexo estatístico).
Levando em conta o período de 1990-94, observa-se que, dentre as montadoras, somente a Fiat aumentou o número dos seus empregados, devido ao crescimento de 123% da sua produção, excepcional no setor. No mesmo período, o número de empregados daquela empresa aumentou em 40%. Não há como extrapolar o movimento de uma empresa isoladamente para o conjunto do setor. Pesquisa do Dieese mostra que, mesmo incluindo a entrada em operação das novas montadoras, cuja vinda está confirmada, o nível de emprego deverá cair em 30% na indústria automobilística até o ano 2000 (Anfavea, Anuário 1995; Laplane & Sarti, 1995; anexo estatístico; Folha de S. Paulo, 1-3-1996; Veja, 7-8-1996).
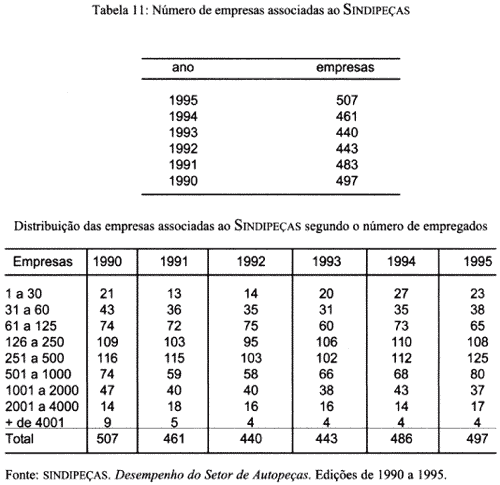
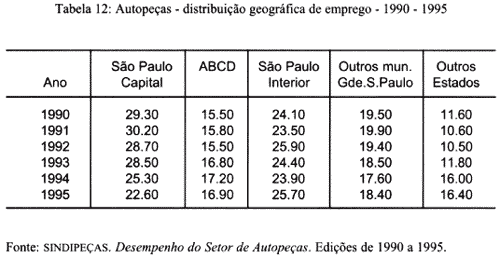
Com cerca de 1.500 empresas, o setor de autopeças apresenta uma configuração muito distinta da que é característica do setor das montadoras. Na produção de autopeças, existem cerca de 60 empresas grandes (com mil ou mais empregados), sendo as demais médias e pequenas (com menos de 125 empregados). Dentre as empresas grandes, as mais sólidas são as de capital estrangeiro. Por conseguinte, o grau de oligopolização do setor de autopeças é muito menor do que o das montadoras. Como seria de esperar, os efeitos desestabilizadores da transição à produção enxuta fazem-se sentir mais intensamente no setor de autopeças.
Detentoras do comando dinâmico do complexo automobilístico, as montadoras vêm seguindo duas tendências com relação aos fornecedores de autopeças.
Uma delas é a da glocalização, ou seja, a combinação da globalização com a formação de centros locais. Em conformidade com essa tendência, as montadoras procuram ter os fornecedores geograficamente próximos. Como isto já ocorre com as montadoras instaladas em São Paulo, o movimento de glocalização só é perceptível atualmente na estratégia de mineirização praticada pela Fiat.
A outra tendência é a do global sourcing, cujo significado consiste em obter fornecimentos sem considerações geográficas. A estratégia dos carros mundiais induz a preferência pelo global sourcing: torna-se mais conveniente trazer as autopeças de fornecedores estrangeiros já preparados e contratados para o padrão exigido pelo modelo, projetado também no exterior (no caso brasileiro, a maioria dos modelos vem da Europa).
O fornecimento de procedência exterior tornou-se ainda mais atraente em conseqüência dos incentivos fiscais proporcionados pela Medida Provisória nº 1.235, regulamentada pelo decreto do governo federal 1.761, de 26-12-1995 (Gazeta Mercantil, 28-12-1995). O novo regime automotivo outorgou às montadoras instaladas no país, como crédito pelas exportações, entre outras vantagens, a importação de autopeças mediante pagamento da tarifa simbólica de 2%. Simultaneamente, a produção interna de autoveículos está defendida pela tarifa de 70%, que incide sobre os autoveículos importados fabricados por empresas não instaladas no Brasil. Daí resulta a produção das montadoras se achar protegida, ao contrário do que se dá com a produção de autopeças.
Com a abertura comercial, a importação de autopeças cresceu em 199% de 1990 a 1995, enquanto a compra de autopeças de fabricação nacional pelas montadoras não aumentou mais do que 26%. Apesar disso, o conteúdo nacional dos autoveículos produzidos no Brasil ainda é de pouco menos de 90%. Contudo, levado adiante, o global sourcing deverá reduzir tal coeficiente de maneira traumática. Numa hipótese extrema, os carros de etiqueta brasileira viriam a ser pouco mais do que carros de montagem CKD, o que seria contrário à legislação vigente e até mesmo ao próprio interesse das montadoras (Sindipeças, 1996; anexo estatístico).
A existência do setor de autopeças é fundamental para dar conteúdo nacional à indústria automobilística. Sem autopeças brasileiras, não se poderia falar em indústria automotiva brasileira, ainda que sob o controle de montadoras estrangeiras. Ademais, o setor de autopeças reúne número ainda considerável de empresas de capital nacional. Em face dos recentes episódios de compras e fusões, coloca-se em questão a sua sobrevivência. Se é plausível, conquanto inseguro, que continue significativo o índice de aproveitamento – por parte das montadoras – de autopeças fabricadas no Brasil, já é muito menos provável, mantidos os rumos atuais, que tais autopeças ainda venham a ser produzidas por empresas de capital nacional. Conforme conclusão de analistas, que realizaram pesquisa patrocinada pelo Sindipeças, seria arriscada a resistência constatada entre empresários brasileiros contra a venda de suas fábricas às EMs. Sugere-se que as vendam, antes que seja tarde (Tauíle et al. 1993; Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 1995; Butori, 1996; Sindipeças, 1996; Gazeta Mercantil, 31-7-1996).
A indústria automotriz argentina iniciou sua atividade à mesma época que a brasileira, na década de 50. Dadas as menores dimensões do seu mercado interno, não pôde acompanhar o crescimento da indústria brasileira. Em 1980, as montadoras argentinas produziram 282 mil autoveículos, menos de um quarto da produção brasileira no mesmo período.
Após o pico daquele ano, a produção argentina entrou em declínio abrupto, que se prolongaria até o início da década de 90. Se a trajetória seguida assemelhou-se, em alguma medida, à brasileira, as causas do fenômeno tiveram natureza dissemelhante. Na Argentina, o declínio deveu-se à política neoliberal praticada pelo governo militar, com abertura escancarada às importações. Todo o parque industrial viu-se afetado, verificando-se o sucateamento de setores inteiros. No setor automobilístico, a produção retraiu-se quase continuamente, chegando a apenas 100 mil autoveículos produzidos em 1990. Ou seja, uma redução de cerca de 65% com relação a dez anos atrás.
O descalabro provocado pela política neoliberal revelou-se tão grave, que não só motivou a retração da produção, como forçou algumas montadoras – General Motors, Fiat, Chrysler e Peugeot – a se retirarem do país.
O impulso ao crescimento foi retomado em 1991, após acordo celebrado entre governo, empresas e sindicatos, o qual inspirou pactuação idêntica no Brasil. O acordo logrou resultados positivos, aproveitando as circunstâncias propícias criadas pela cessação concomitante da hiperinflação. Assim é que, em 1994, a produção de autoveículos atingiu a cifra de 409 mil, registrando, em quatro anos, o aumento, certamente espantoso, de 309%. A recuperação motivou projetos de expansão das montadoras instaladas e o retorno da General Motors e da Fiat. A primeira já opera em suas próprias instalações, enquanto a segunda constrói uma fábrica em Córdoba, fazendo cessar a licença de produção de seus modelos concedida à firma argentina Sevel.
A expansão produtiva das montadoras refletiu-se no setor de autopeças, também devastado pela abertura importadora irrestrita do período militar. No entanto, a produção nacional do setor tem sido bastante inferior à demanda, motivo por que o país assinala um déficit persistente no balanço comercial de autopeças, com as importações superando as exportações em US$ 2.555 milhões, no biênio 1993-1994.
Deve-se notar, outrossim, que a retomada vigorosa da produção argentina veio acompanhada de incremento não menos ascensional da importação, na maior parte procedente do Brasil. A exportação brasileira de automóveis ao país vizinho passou de 35.080 unidades, em 1990, para 219.317 unidades, em 1994. As cifras evidenciam que a estratégia das EMs instaladas nos dois países do Mercosul confere preeminência ao Brasil e inclui o fluxo prioritário de autoveículos deste em direção à Argentina (as cifras citadas foram extraídas dos Anuários da Anfavea, diferindo para mais daquelas fornecidas pela Adefa, sua congênere argentina).
Todavia, a crise financeira mexicana, deflagrada em dezembro de 1994, repercutiu gravemente na Argentina, país que mais se ressentiu do efeito tequila na América Latina, exceto o próprio México. A fuga de capital financeiro especulativo trouxe queda brusca da reserva de divisas, o que detonou forte reação recessiva, inevitável no quadro do câmbio fixo paritário entre o dólar e o peso e da proibição de emissões monetárias sem lastro no dólar, conforme a política deflacionária e dolarizante do governo Menem. A recessão traduziu-se no agravamento do desemprego, que atingiu a taxa de 18%, e na diminuição do PIB em 1995, com queda de 4,4%.
A produção automobilística. uma das mais atingidas pelas circunstâncias de arrocho, caiu para 285 mil autoveículos em 1995, configurando redução de 31% com relação ao ano anterior. Em 1996, prosseguiu a trajetória descendente.
Abstraindo da conjuntura negativa, a indústria automobilística argentina defrontar-se-á de maneira duradoura com a estreiteza do seu mercado interno, motivo pelo qual não lhe será fácil alcançar a economia de escala imprescindível. A necessidade de especialização e a integração com a indústria e o mercado do Brasil, nos quadros do Mercosul, apresentam-se, por conseguinte, como questões decisivas (Adefa, 1994, 1996; Caia, 1995; Acara, 1995; Catalano & Novick, 1996; Roldan, 1996; Neffa, 1996).
Constituída no bojo da política de substituição de importações, a indústria automobilística do México defrontou-se, no início da década de 80, com a perturbação recessiva deflagrada pela inadimplência no serviço da dívida externa. Os anos seguintes caracterizaram-se por dificuldades do ajuste reclamado pelos credores internacionais. Em conseqüência, o mercado interno encolheu e sua estreiteza impeliu as montadoras a empreender a mudança de rumo. A produção mexicana de autoveículos passou a destinar parte cada vez maior à exportação, principalmente em direção aos Estados Unidos. Assim, entre 1989 e 1994, a exportação de autoveículos aumentou de 30% para 51% da produção total. Várias plantas, como a da Ford, em Hermosillo, equipada no estado da arte, destinam sua produção inteiramente à exportação.
Ao mesmo tempo, o México especializou-se na produção de motores, cujo total de 2,2 milhões, em 1995, também visa, em mais da metade, ao mercado externo.
A vantagem, que o México teria com o esforço exportador, em matéria de divisas, se vê restringida pela necessidade considerável da importação de autopeças. Um decreto de 1989 diminuiu de 75 para 36% o requisito de conteúdo nacional mínimo obrigatório por parte das montadoras. Na prática, algumas plantas atingem coeficientes superiores ao mínimo, em alguns casos próximos de 50%, porém, não raro, até abaixo do limiar fixado pelo governo.
O Tratado do Nafta, que une o México aos Estados Unidos e ao Canadá numa zona de livre comércio, não corrigiu tal situação, uma vez que estabeleceu o coeficiente de 62% como conteúdo regional dos produtos transacionados em condições privilegiadas. Por conseguinte, não é o conteúdo nacional que conta: será suficiente que um produto tenha 62% de conteúdo de valor criado nos Estados Unidos para que possa trafegar, com tarifas especiais ou isento delas, daquele país ao México e vice-versa.
No cômputo da balança comercial mexicana, não figura o movimento da região chamada de maquiladora, na fronteira com os Estados Unidos. Destes para o México e vice-versa, os produtos entram e saem sem qualquer incidência fiscal, mas proibidos de venda no mercado mexicano. O objetivo da maquilagem é o mercado dos Estados Unidos, no qual os produtos terão a vantagem do acréscimo de trabalho barato. Procedentes do vizinho setentrional, os mais variados produtos recebem, no México, a adição de 2% de valor agregado, resultante do trabalho de um contingente de 750 mil operários, 70% dos quais mulheres. Estas executam operações manuais, ainda necessárias ou convenientes mesmo com a produção automatizada, recebendo remuneração sete vezes inferior à dos trabalhadores norte-americanos, o que torna vantajosa a sua contribuição, apesar de representar não mais do que exatamente ínfimos 2% do valor total.
A região da maquila funciona como zona franca, sem qualquer conexão com a cadeia produtiva do parque industrial mexicano. Autoveículos e autopeças figuram entre os variados produtos que por ali transitam. As três grandes montadoras norte-americanas possuem instalações locais, o que se dá igualmente com a Honda, a Nissan e a Volkswagen. Tais instalações nada têm a ver com as plantas das mesmas EMs localizadas nas outras regiões do país.
A produção mexicana alcançou crescimento de 185%, entre 1985 e 1994, subindo de 398 mil autoveículos para 1.135 mil. As perspectivas promissoras esvaíram-se com a irrupção da crise cambial em dezembro de 1994 e a conseqüente sucessiva desvalorização do peso em cerca de 50%. Em 1995, o PIB decresceu em 7%, os salários reais tiveram queda de 20% e o desemprego atingiu 25% da força de trabalho. Embora em ritmo mais lento, a situação continuou a deteriorar-se em 1996.
De 1994 a 1995, as vendas de autoveículos no mercado interno caíram em cerca de 70%, em parte compensadas pelo aumento de 40% das exportações. Assim, estima-se que a queda da produção das montadoras ficou em 30%. Em 1996, em contrapartida ao ascenso continuado das exportações, a reação do mercado interno ainda é muito fraca (Arteaga, 1993; Micheli Thirión, 1994; Ineje, 1995; Ejecutivo Financiero, nov./95; Zapata, 1995, 1996; Bensusán, 1996; Luján, 1996; Chesnais, 1996).
O contraponto argentino e mexicano mostra a posição peculiar em que se encontra o Brasil no quadro da América Latina. A vantagem principal do nosso país reside nas dimensões do seu mercado interno, três vezes maior que o da Argentina e duas vezes maior que o do México. Ao contrário do que sucede nesses dois países, a indústria automobilística, no Brasil, dispondo do mercado interno ampliado pelo Mercosul, tem condições de lograr economia de escala suficiente a fim de se tornar competitiva no âmbito internacional, dessa maneira incrementando amplamente o contingente exportado.
Acresce que o mercado interno brasileiro, reprimido durante os anos 80, dispõe de ampla margem de crescimento. Dados de 1993 mostram que a relação habitantes / automóvel ainda é muito baixa no Brasil (11,2 / 1), se comparada com a Argentina (7 / 1), sem falar dos Estados Unidos (1,8 / 1) ou da Alemanha (2,5 / 1). Enquanto o mercado comprador de autos encontra-se praticamente saturado nos países ricos, o mesmo não se dá no Brasil, país que registrou as taxas mais altas de crescimento das vendas internas de autos nos últimos quatro anos.
Ao mercado interno soma-se o grau mais adiantado de desenvolvimento industrial e econômico. São trunfos preciosos nas relações internacionais, nesta era de globalização.
Referências bibliográficas:
ACARA. Buenos Aires, Analisis comparativo del sector automotriz, 1995.
ADEFA. Buenos Aires, Anuario Estadistico, 1994.
__________. Boletim de março de 1996.
AGLIETTA, Michel. Régulation et crisis du capitalisme. Paris, Calmann-Lévy, 1976.
ALTVATER, Elmar. O preço da riqueza. São Paulo, Unesp, 1995.
ANFAVEA. São Paulo, Anuários Estatísticos, 1988 a 1995.
__________. Carta da Anfavea, vários números.
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? São Paulo, Cortez, 1995.
ARBIX, Glauco. Trabalho: dois modelos de flexibilização. In: Lua Nova. São Paulo, nº 37, 1996.
ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. São Paulo, Contraponto-Unesp, 1996.
ARTEAGA, Arnulfo. La reestructuración de la industria automotriz em México y sus repercusiones en el viejo núcleo fabril. In: Arteaga, Arnulfo (coord.). Proceso de trabajo y relaciones laborales en la industria automotriz en Mexico. México, UAM-Fundação Friedrich Ebert, 1993.
AUTODATA. São Paulo, vários números.
AZNAR, Guy. Trabalhar menos para trabalharem todos. São Paulo, Scritta, 1993.
BABSON, Steve (org.). Lean work. Empowerment and exploitation in the global autoindustry. Detroit, Wayne University Press, 1995.
BARNETT, Richard J. & MÜLLER, Ronald. Poder global. Rio de Janeiro, Record, 1974.
BAUMANN, Renato (org.). O Brasil e a economia global. Rio de Janeiro, Campus, 1996.
BENSUSÃN, Graciela. Integración regional y cambio institucional: la reforma laboral en el norte del continente. México, Flacso-UAM, 1996 [mimeo].
BERGGREN, Christian. New production concepts in final assembly: the Swedish experience. In Wood, Stephen J (org.). The transformation of work. Londres, Unwin Hyman, 1989.
BOYER, Robert. A teoria da regulação. Uma análise crítica. São Paulo, Nobel, 1990.
BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista. A degradação do trabalho no século XX. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987.
BRESCIANI, Luís Paulo. Da resistência à contratação. Tecnologia, trabalho e ação sindical. São Paulo, cni-sesi-dn, 1994.
BRUNHOFF, Suzanne de. A hora do mercado. Crítica do liberalismo. São Paulo, Unesp, 1991.
BUTORI, Paulo. Cobramos o equilíbrio. In Autodata, nº 74, maio 1996.
__________. Entrevista em julho de 1996.
CAIA. Autocomponentes en cifras. 1991-1995. Buenos Aires, 1995.
CANUTO, Otaviano. Brasil e Coréia do Sul. Os (des)caminhos da industrialização tardia. São Paulo, Nobel, 1994.
CARDOSO, Adalberto M. & COMIN, Álvaro Augusto. Câmaras setoriais, modernização produtiva e democratização nas relações de trabalho no Brasil: a experiência do setor automobilístico. In Castro, Nadya Araújo de (org.). A máquina e o equilibrista. Inovações na indústria automobilística brasileira. São Paulo, Paz e Terra, 1995.
CARNOY, Martin (org.). The new global economy in the information age: reflections on our changing world. Pennsylvania State University, 1993.
__________. Multinationals in a changing world economy: whither the Nation-State? In Carnoy, Martin (org.), cit.
CARVALHO, Ruy de Quadros. Tecnologia e trabalho industrial. As implicaçães sociais da automação microeletrônica na indústria automobilística. Porto Alegre, L&PM, 1987.
__________ Projeto de Primeiro Mundo com conhecimento e trabalho do Terceiro? São Paulo, IEA-USP, RevistaESTUDOS AVANÇADOS, v. 7, n. 17, 1993.
CARVALHO, Ruy & SCHMITZ, Hubert. O fordismo está vivo no Brasil. São Paulo, Novos Estudos Cebrap, n. 27, 1990.
CASTELLS, Manuel. The informational economy and the new international division of labor. In Carnoy, Martin (org.)., cit.
CASTRO, Nadya Araújo de. Modernização e trabalho no complexo automotivo brasileiro. Reestruturação industrial ou organização de ocasião?. São Paulo, Novos Estudos Cebrap, n. 37, 1993.
__________. (org.). A máquina e o equilibrista. Inovações na indústria automobilística brasileira. São Paulo, Paz e Terra, 1995.
CATALANO, A. M. & NOVICK, M. Industria automotriz argentina: redefiniendo estrategias productivas, mercados y relaciones laborales. Buenos Aires, 1996 [mimeo].
CHESNAIS, François. La mondialisation du capital. Paris, Syros, 1994. Trad. brasileira: A mundialização do capital.São Paulo, Xamã, 1996.
COHEN, Stephen S. Geo-economics: lessons from America's mistakes. In Carnoy, Martin (org.), cit.
COMIN, Álvaro Augusto et al. O mundo do trabalho. Crise e mudança no final do século. São Paulo, Scritta-Ministério do Trabalho-Cesit, 1994.
CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. Rio de Janeiro, UFRJ-Revan, 1994.
COUTINHO, Luciano & FERRAZ, João Carlos. Estudo da competitividade da indústria brasileira. Campinas-SP, Papirus-Edunicamp, 1994.
COUTINHO, Luciano; CASSIOLATO, José Eduardo & SILVA, Ana Lucia G. da. Telecomunicações, globalização e competitividade. Campinas-SP, Papirus, 1995.
CUT. Propostas para a geração de empregos. São Paulo, 1996.
DIEESE. Trabalho e reestruturação produtiva. Dez anos de linha de produção. São Paulo, 1994.
__________ . Boletim Dieese. Várias edições.
DEDECCA, Claudio Salvadori. Racionalização econômica e heterogeneidade nas relações e nos mercados de trabalho no capitalismo avançado. In Oliveira, Carlos Alonso Barbosa de e Jorge Eduardo Levi Mattoso (orgs.).Crise e trabalho no Brasil. Modernidade ou volta ao passado? São Paulo, Scritta, 1996.
DIETERICH, Heinz & CHOMSKY, Noam. La sociedad global. Educación, mercado, democracia. México, Contrapuntos, 1996.
EJECUTIVO FINANCIERO. México, 1995. Vários números.
FERRO, José Roberto. Estudo da competitividade da indústria brasileira. Competitividade na indústria automobilística. Campinas-SP, MCT-Finep-Pacdt, 1993 [mimeo].
__________. Para sair da estagnação e diminuir o atraso da indústria automobilística brasileira. São Paulo, IPT-Fecamp, 1990 [mimeo].
FIOCCA, Demian. A mão-de-obra custa pouco no Brasil. Folha de S. Paulo, 14 fev. 1996.
FLEURY, Afonso. Novas tecnológias, capacitação tecnológica e processo de trabalho: comparações entre o modelo japonês e o brasileiro. In Hirata, Helena (org.). Sobre o "modelo" japonês. São Paulo, Edusp, 1993.
__________. The trajectory of General Motors in Brazil. São Paulo, 1994 [mimeo].
__________. Toyota's Kiushu plant: continuity and change in the Toyota's production system. São Paulo, 1994 [mimeo].
FLEURY, Afonso C. & FLEURY, Maria Tereza Leme. Aprendizagem e inovação organizacional. As experiências de Japão, Coréia e Brasil. São Paulo, Atlas, 1995.
FLEURY, Maria Tereza Leme. Mudanças e persistências no modelo de gestão de pessoal em setores de tecnologia de ponta: o caso brasileiro em contraponto com o japonês. In Hirata, Helena (org.), cit.
FOLHA DE S. PAULO. Várias edições.
FREYSSENET, Michel. Volvo-Uddevalla, analyseur du fordisme et du toyotisme. Paris, Actes du Gerpisa, n. 9, 1994.
__________. Formas sociais de automatização e experiências japonesas. In: Hirata, Helena (org.), cit.
GAZETA MERCANTIL. Várias edições.
GORENDER, Jacob. Estratégias dos Estados nacionais diante do processo de globalização. São Paulo, IEA-USP, Revista ESTUDOS AVANÇADOS, v. 9, n. 25, dez. 1995.
GORZ, André. Adeus ao proletariado. Rio de Janeiro, Forense-Universitária, 1982.
GOUNET, Thomas. Luttes concurrentielles et stratégies d'accumulation dans l'industrie automobile. Bruxelas,Etudes marxistes, n. 10, 1991.
GRAMSCI, Antonio. Americanismo e fordismo. Milão, Universale Economica, 1949.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. Uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo, Loyola, 1994.
HIRATA, Helena (org.). Sobre o "modelo" japonês. São Paulo, Edusp, 1993.
__________. Division sexuelle et internationale du travail. In: Paradigmes du travail. Futur antérieur, n. 2. Paris, Harmattan, 1993-a.
HIRATA, Helena & ZARIFIAN, Philippe. Força e fragilidade do modelo japonês. São Paulo, IEA-USP, Revista Estudos Avançados, v. 5, n. 12, 1991.
HOLLANDA FILHO, Sérgio Buarque de. O desmpenho da indústria automobilística brasileira num contexto de competição mundial através de inovações. São Paulo, 1994. Tese (livre docência). Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo.
HUMPHREY, John. Adaptando o modelo japonês ao Brasil. In: Hirata, Helena (org.), cit.
__________. O impacto das técnicas japonesas de administração sobre o trabalho industrial no Brasil. In Castro, Nadya Araújo de (org.), cit.
HYMER, Stephen H. La compañia multinacional. Madrid, H. Blume, 1982.
IANNI, Octavio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1995.
INEGI. La industria automotriz em Mexico. México, 1995.
JÜRGENS, Ulrich. Lean production and co-determination. The german experience. In: Babson, Steve (org.), cit.
__________. Productive transformations and capital – labor relations in the auto-industry: the german case. São Paulo, Cebrap, 1996 [mimeo].
KATZ, Claudio; BRAGA, Ruy & COGGIOLA, Osvaldo. Novas tecnologias. Crítica da atual reestruturação produtiva. São Paulo, Xamã, 1995.
KELLER, Maryann. Rude despertar. Ascensão, queda e luta pela recuperação da General Motors. Rio de Janeiro, Bertrand, 1991.
__________. Colisão. GM, Toyota, Volkswagen: a corrida para dominar o século xxi. Rio de Janeiro, Campus, 1994.
KORTEN, David C. Quando as corporaçães regem o mundo. São Paulo, Futura, 1996.
LAPLANE, Mariano Francisco & SARTI, Fernando. A reestruturação do setor automobilístico brasileiro nos anos 90. São Paulo, Instituto Mackenzie, Economia & Empresa, v. 2, n. 4, 1995.
LEITE, Marcia de Paula. O futuro do trabalho. Novas tecnologias e subjetividade operária. São Paulo, Scritta, 1994.
LEITE, Marcia de Paula; SILVA, Roque Aparecido da; BRESCIANI, Luís Paulo & CONCEICÃO, Jefferson José da.Reestruturação produtiva e relações industriais: tendências do setor automotivo brasileiro. São Paulo, 1995 [mimeo].
LE VEN, Michel Marie. Fiat e fmb em Betim. História do processo de trabalho (1972-1986). Trabalhadores e sindicato: História dos metalúrgicos da Fiat e da FMB (1976-1991). Belo Horizonte, Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, 1992 [mimeo].
LIMA, Francisco P. Antunes & ARAÚJO, Stella Deusa Pegado. Belo Horizonte, entrevista em fevereiro de 1996.
LIPIETZ. Alain. Audácia. Uma alternativa para o século XXI. São Paulo, Nobel, 1991.
LOJKINE, Jean. A classe operária em mutações. Belo Horizonte, Oficina de Livros, 1990.
__________. A revolução informacional. São Paulo, Cortez, 1995.
LUJÃN, Berta. Entrevista. México, junho de 1996.
MacDUFFIE, John Paul. Workers'roles in lean production: the implications for worker representation. In: Babson, Steve (org.), cit.
MARQUES, Rosa Maria. Automação microeletrônica e o trabalhador. São Paulo, Bienal, 1987.
MATTOSO, Jorge Eduardo Levi. A desordem do trabalho. São Paulo, Scritta, 1995.
__________. Emprego e concorrência desregulada: incertezas e desafios. In: Oliveira e Mattoso (orgs.). Crise e trabalho no Brasil. Modernidade ou volta ao passado? São Paulo, Scritta, 1996.
MICHALET, Charles-Albert. O capitalismo mundial. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981.
MICHELI THIRIÓN, Jordy. Nueva manufactura, globalización y producción de automóviles en México. México, UAM-Facultad de Economia, 1994.
MIT. The global automobile industry: the MIT International Motor Vehicle Program perspective. São Paulo, 1996.
NEFFA, Julio César. Crisis, regimen de acumulación y processo de reconversión en la Argentina: um analisis desde la teoría de la regulación. Buenos Aires, Ceil-Conicet, Dialógica, v. 1, n. 1, 1996.
OHMAE, Kenichi. O fim do Estado-nação. Rio de Janeiro, Campus, 1996.
OLIVEIRA, Carlos Alonso Barbosa de & MATTOSO, Jorge Eduardo Levi (orgs). Crise e trabalho no Brasil. Modernidade ou volta ao passado? São Paulo, Scritta, 1996.
OSAWA, Machiko. Transformação estrutural e relações industriais no mercado de trabalho japonês. In: Hirata, Helena (org.), cit.
PAIVA, Vanilda. Produção e qualificação para o trabalho: uma revisão da bibliografia internacional. Rio de Janeiro, Instituto de Economia Industrial-UFRJ, 1989.
PIORE, Michael & SABEL, Charles. The second industrial divide. Possibilities for prosperity. New York, Basic Books, 1984.
PIRAGIBE, Clélia. Políticas para a indústria eletrônica nos novos países industrializados. Lições para o Brasil? In Scmitz, Hubert & Carvalho, Ruy de Quadros (orgs.). Automação, competitividade e trabalho: a experiência internacional. São Paulo, Hucitec, 1988.
POSTHUMA, Anne Caroline. Reestructuring and changing market conditions in the brazilian auto components industry. São Paulo, 1994 [mimeo].
__________. Técnicas japonesas de organização nas empresas de autopeças no Brasil. In: Castro, Nadya Araújo de (org.), cit.
REICH, Robert B. O trabalho das naçães: preparando-nos para o capitalismo do século XXI. São Paulo, Educator, 1994.
ROLDAN, Martha. Internacionalización y reestruturación productiva, regulación regional y relaciones capital-trabajo. Buenos Aires, Flacso-Conicet, 1996 [mimeo].
RUAS, Roberto; ANTUNES, José A. & ROESE, Mauro. Avanços e impasses do modelo japonês no Brasil: observações acerca de casos empíricos. In: Hirata, Helena (org.), cit.
SALERNO, Mário Sergio. Modelo japonês, trabalho brasileiro. In: Hirata, Helena (org.), cit.
__________. Flexibilidade e organização produtiva. In: Castro, Nadya Araújo de (org.), cit.
SALM, Cláudio. As relações entre capitalismo e educação: prolegômenos. In: Castro, Nadya Araújo de (org.), cit.
SANTOS, Anselmo Luís dos & POCHMANN, Marcio. O custo do trabalho e a competitividade internacional. In Oliveira e Mattoso (orgs.), cit.
SCHAFF, Adam. A sociedade informática. São Paulo, Unesp-Brasiliense, 1993.
SCHMITZ, Hubert & CARVALHO, Ruy Quadros de. Automação, competitividade e trabalho: a experiência internacional. São Paulo, Hucitec, 1988.
SCHUTTE, Giorgio. Fiat: entre despotismo e dinamismo, em busca de competitividade. In: Castro, Nadya Araújo de (org.), cit.
SILVA, Elizabeth Bortolaia. Refazendo a fábrica fordista. Contrastes da indústria automobilística no Brasil e na Grã-Bretanha. São Paulo, Hucitec, 1991.
SINDICATOS dos Metalúrgicos do ABC, de São Caetano do Sul, de São José dos Campos, de Campinas, de Taubaté e de Betim [entrevistas].
SINDICATO dos Metalúrgicos do ABC. Sem peças o Brasil não roda. São Bernardo do Campo, 1995.
SINDICATO dos Metalúrgicos do ABC. Reestruturação do complexo automotivo brasileiro. As propostas dos trabalhadores na câmara setorial. São Bernardo do Campo, 1992.
__________. Redução da jornada, limite de hora extra e reorganização do tempo de trabalho: as propostas dos metalúrgicos do ABC. São Bernardo do Campo, 1993.
__________. Globalização do setor automotivo. A visão dos trabalhadores. São Bernardo do Campo, 1996.
SINDICATO dos Metalúrgicos do ABC e Sindicato dos trabalhadores nas indústrias e oficinas metalúrgicas, mecânicas, e de material elétrico e eletrônico, siderúrgicas e automobilísticas e de autopeças de Taubaté, Tremembé e distritos. Acôrdo coletivo com a Volkswagen do Brasil Ltda. São Bernardo do Campo, janeiro de 1996.
SINDIPEÇAS. Desempenho do setor de autopeças/ 1974-1995. São Paulo, 1996.
__________. Estratégia setorial para a indústria automobilística. Relatório final. São Paulo, 1994.
__________. Sindipeças News. Várias edições.
TAUÍLE, José Ricardo. A difusão de máquinas-ferramenta com controle númerico no Brasil. Rio de Janeiro, Ipea,Pesquisa e planejamento econômico, 1985.
TAUÍLE, José Ricardo; ARRUDA, Mauro & FAGUNDES, Jorge. A indústria de autopeças: perspectivas para a década dos noventa. Rio de Janeiro, Instituto de Economia Industrial-UFRJ, 1993.
__________. Estratégias de sustentação para a indústria automobilística no Brasil. Rio de Janeiro, Instituto de Economia Industrial, 1994.
TORRES FILHO, Ernani Teixeira. Os keiretsu e os desafios da internacionalização. In: SCHWARTZ, Gilson (org.). As lições da economia japonesa. São Paulo, Saraiva, 1995.
TOTSUKA, Hideo. The transformation of japanese industrial relations: a case study of the automobile industry. In: Babson, Steve (org.), cit.
THUROW, Lester C. The future of capitalism. How today's economic forces shape tomorrow's world. Nova Iorque, William Morrow, 1996.
VEJA. O automóvel chega ao limite, n. 32. São Paulo, ago. 1996.
VIGEVANI, Tullo. O contencioso Brasil x Estados Unidos na informática. Uma análise sobre formulação da política exterior. São Paulo, Alfa-Ômega-Edusp, 1995.
WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. & ROOS, Daniel. A máquina que mudou o mundo. Rio de Janeiro, Campus, 1992.
WOOD, Stephen J. The transformation of work. Londres, Unwin Hyman, 1989.
__________. Toyotismo e/ou japonização. In: Hirata, Helena (org.), cit.
ZAPATA, Francisco. El sindicalismo mexicano frente a la reestructuración. México, El Colégio de México-Centro de Estudios Sociológicos, 1995.
__________. Estado, sociedad y integración regional: libre comercio y reestruturación. São Paulo, IEA-USP, Revista ESTUDOS AVANÇADOS, v. 10, n. 27, 1996.
Jacob Gorender é historiador e professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da USP. Dentre suas obras, destacam-se O escravismo colonial e Combate nas trevas, ambas publicadas pela Editora Ática. Artigo no qual se baseou a exposição no seminário realizado no IEA-USP em 22 de agosto de 1996, por iniciativa da Área de Assuntos Internacionais e coordenado pelo autor. As tabelas do anexo estatístico foram elaboradas pelo economista Rubens Nunes, doutorando da FEAC-USP. Como pesquisadores, colaboraram Marcos Delgado (graduado em História) e David Leandro Cavalcante (estudante de História). O autor agradece à fapesp o auxílio recebido para a realização deste estudo.
| Fonte |
 |
| Inclusão | 27/12/2015 |